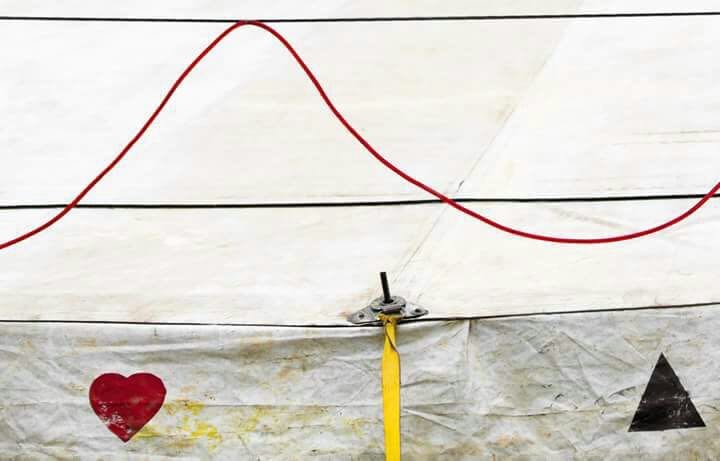Para Jerônimo
O vô tomava um cálice de vinho no almoço e na janta. O neto terminou sendo sommelier para perpetuar a memória dos círculos na toalha de linho e da gargalhada rubra no cristal.
Todo o final de semana costumava ser sagrado para os dois. O neto adulto levava debaixo do braço a garrafa mais cara para beberem juntos. Durante quarenta anos, mantiveram a rotina, até o avô falecer. Os trabalhos começavam na mesa da varanda, migravam para a mesa da sala e terminavam na mesa do pátio, entre pedras e cactos.
O neto era o seu traficante de aromas, o seu contrabandista de sentimentos, a sua extensão ancestral.
O avô, assim que bebia o primeiro gole, dizia a mesma coisa: – É o melhor vinho da minha vida.
O neto ria da sentença, apesar de nunca definir como o novo poderia ser melhor do que o anterior. Não era capaz de acertar sempre e sempre se superar. Mas, por mais que o rótulo fosse diferente, a garrafa diferente, tratava-se do melhor vinho para o avô. Aquilo o enchia de orgulho e ele acreditava, como uma criança acredita em anjos, acredita em recompensas das formigas pelos dentes caídos, acredita em cruzar os dedos para ter sorte.
Uma tarde, antes do avô baixar hospital, ele perguntou qual de verdade tinha sido a mais encantadora degustação.
O velho, meio que tossindo e meio que tirando graça, arrematou:
– O próximo! O próximo será o melhor de todos.
No funeral, antes do caixão se enfileirar para adega de Deus, o neto abriu um vinho e derramou lentamente o seu conteúdo na tampa de vidro.
Ele foi um anfitrião enterrado a sete palmos da terra e a três dedos de vinho.
Publicado em Vida Breve em 30/08/17
quarta-feira, 30 de agosto de 2017
LIMPANDO MANCHAS COM A SALIVA
Eu fiz aquilo que sempre odiei.
Notei uma mancha de pasta de dente no casaco do abrigo de meu filho antes da saída para a escola e tentei limpar com a saliva. Foi um gesto impensado, passional, visceral. Quando vi, já raspava a unha no tecido. Havia desaparecido o pedágio do pudor dos pensamentos e segui com os braços em alta velocidade.
— Que é isso, pai?
Ele me censurou e, então, caí em mim. Acordei do transe paterno, do coma do instinto que atinge os bichos com as suas crias. Resmunguei uma desculpa, mas ainda estava, mesmo errado, me sentindo convicto do meu ato. Veio a confusão de lembranças: ser pai é voltar a ser filho.
Lembrei que a mãe tinha a mania de tirar alguma mancha do meu uniforme escolar umedecendo o dedo em sua boca. Assim como ela virava as páginas das revistas nas salas de espera dos consultórios. Achava nojento. Preferia ir para a aula sujo a ir com o casaco cuspido. Não me faziam mal manchas de café ou do Nescau, justificáveis, eu me incomodava com a esfregação improvisada. Jamais sonhei que estaria no outro lado do balcão da alma, realizando o que abominava. Jamais imaginava que, de vítima, viraria protetor.
Mas a vida propõe a mudança generosa de lugares. Eu só não queria o meu filho entrando na sala deselegante. Ele pairava acima dos meus nojos e preconceitos. Não teria mesmo como me controlar. A educação supera condicionamentos e medos e somos mais do que a nossa mera identidade.
Não sofro com a fama de chato que possa receber por minhas tempestuosas manias.
Uma hora ou outra, o feitiço atingirá o feiticeiro. O que mais odiamos, com o tempo, será o que mais amaremos. Eu amo o que odiava. Amo fazer coisas de meus pais que odiava neles. Amo ser hoje os meus pais. Com os hábitos invasivos de mexer no cabelo dos filhos de repente, para ajeitar o penteado, ou de me agachar do nada para arrumar as bainhas das calças presas nas meias. E apanhando até terminar as tarefas: eles estapeiam as minhas mãos quando sou frenético pente ou começam a caminhar quando sou imóvel engraxate. A resistência deles com "para, pai" ou "não precisa disso" aumenta a minha ternura. Experimento cenas patéticas e ridículas publicamente.
Surgem relâmpagos de cuidados que não sei frear. Riscam o céu de minhas veias.
O clarão impulsiona o corpo e ele simplesmente obedece. A impressão é de que morreria se não fizesse. Chamava a minha mãe de dramática e agora divido o palco com ela na ópera do cotidiano.
Talvez o zelo morasse em mim desde pequeno, esperando a paternidade para aflorar.
Publicado em Jornal Zero Hora em 29/08/17
Notei uma mancha de pasta de dente no casaco do abrigo de meu filho antes da saída para a escola e tentei limpar com a saliva. Foi um gesto impensado, passional, visceral. Quando vi, já raspava a unha no tecido. Havia desaparecido o pedágio do pudor dos pensamentos e segui com os braços em alta velocidade.
— Que é isso, pai?
Ele me censurou e, então, caí em mim. Acordei do transe paterno, do coma do instinto que atinge os bichos com as suas crias. Resmunguei uma desculpa, mas ainda estava, mesmo errado, me sentindo convicto do meu ato. Veio a confusão de lembranças: ser pai é voltar a ser filho.
Lembrei que a mãe tinha a mania de tirar alguma mancha do meu uniforme escolar umedecendo o dedo em sua boca. Assim como ela virava as páginas das revistas nas salas de espera dos consultórios. Achava nojento. Preferia ir para a aula sujo a ir com o casaco cuspido. Não me faziam mal manchas de café ou do Nescau, justificáveis, eu me incomodava com a esfregação improvisada. Jamais sonhei que estaria no outro lado do balcão da alma, realizando o que abominava. Jamais imaginava que, de vítima, viraria protetor.
Mas a vida propõe a mudança generosa de lugares. Eu só não queria o meu filho entrando na sala deselegante. Ele pairava acima dos meus nojos e preconceitos. Não teria mesmo como me controlar. A educação supera condicionamentos e medos e somos mais do que a nossa mera identidade.
Não sofro com a fama de chato que possa receber por minhas tempestuosas manias.
Uma hora ou outra, o feitiço atingirá o feiticeiro. O que mais odiamos, com o tempo, será o que mais amaremos. Eu amo o que odiava. Amo fazer coisas de meus pais que odiava neles. Amo ser hoje os meus pais. Com os hábitos invasivos de mexer no cabelo dos filhos de repente, para ajeitar o penteado, ou de me agachar do nada para arrumar as bainhas das calças presas nas meias. E apanhando até terminar as tarefas: eles estapeiam as minhas mãos quando sou frenético pente ou começam a caminhar quando sou imóvel engraxate. A resistência deles com "para, pai" ou "não precisa disso" aumenta a minha ternura. Experimento cenas patéticas e ridículas publicamente.
Surgem relâmpagos de cuidados que não sei frear. Riscam o céu de minhas veias.
O clarão impulsiona o corpo e ele simplesmente obedece. A impressão é de que morreria se não fizesse. Chamava a minha mãe de dramática e agora divido o palco com ela na ópera do cotidiano.
Talvez o zelo morasse em mim desde pequeno, esperando a paternidade para aflorar.
Publicado em Jornal Zero Hora em 29/08/17
O CARÁTER QUE SE REVELA NA CONFISSÃO
Contar um segredo é a triagem do caráter.
Ou o segredo liberta ou aprisiona. É confessando algo de que nos envergonhamos que saberemos se a pessoa é a nossa amiga ou não. Não tem teste tão veemente, com efeitos mais imediatos.
O confessionário prova se o outro é leal. Expor uma lembrança triste a quem não é de confiança logo vira chantagem, logo vira moeda de troca, logo vira favor. Pode não espalhar para os demais, mas usará a informação para obter vantagens e transformar a culpa em superioridade. Aquele que não é amigo se aproveita da fragilidade para garantir benefícios. Fortalece a vítima para desmerecê-la. Levanta para cima, diz que o segredo é nada, dissuade o medo, para rir depois da queda.
Não é um amigo, porém um inimigo em potencial, um adversário disfarçado de bons modos. No fundo, não tem escrúpulos. Aproxima-se para impor os seus interesses. Está jogando sujo para ganhar recompensas fáceis. Ele se faz de compreensivo e compassivo com o objetivo de manipular a relação.
Há como prever o Judas antes da confissão. Pois Judas trai com um beijo. Será alguém que se mostra muito carinhoso de uma hora para outra. Tem pressa de saber tudo a seu respeito, sem nenhuma razão aparente. Aparece forçando a intimidade, com convites generosos e apoios nababescos.
Cuide com o que fala. Porque aquilo que falar mostrará a natureza de suas companhias. A decepção virá rapidamente na forma de um insulto e de uma ironia. No primeiro desentendimento, o túmulo de cimento das palavras não resiste às marteladas da profanação.
A traição será sempre a violação de uma confidência. Os suspeitos não mudam com o tempo. É um colega de trabalho concorrendo com você. É um antigo afeto querendo vingança. É um familiar ressentido com o passado.
Amigo que é amigo escuta e esquece, e jamais volta para o assunto. Ouve e apaga. Escreve na água, para a onda levar. Escreve na areia, para o vento cobrir.
Cumplicidade é como bebedeira, nunca lembrar o que aconteceu durante a vulnerabilidade da conversa.
Amigo que é amigo mantém a decência de uma gaveta, de um cofre, de uma chave. Demonstra a sobriedade educada e gentil de ajudar e desaparecer. Já cumpriu o papel de dividir as dores e frustrações. Não alimenta a ambição de ser maior do que o silêncio.
Publicado em Jornal Zero Hora em 27/08/17
Ou o segredo liberta ou aprisiona. É confessando algo de que nos envergonhamos que saberemos se a pessoa é a nossa amiga ou não. Não tem teste tão veemente, com efeitos mais imediatos.
O confessionário prova se o outro é leal. Expor uma lembrança triste a quem não é de confiança logo vira chantagem, logo vira moeda de troca, logo vira favor. Pode não espalhar para os demais, mas usará a informação para obter vantagens e transformar a culpa em superioridade. Aquele que não é amigo se aproveita da fragilidade para garantir benefícios. Fortalece a vítima para desmerecê-la. Levanta para cima, diz que o segredo é nada, dissuade o medo, para rir depois da queda.
Não é um amigo, porém um inimigo em potencial, um adversário disfarçado de bons modos. No fundo, não tem escrúpulos. Aproxima-se para impor os seus interesses. Está jogando sujo para ganhar recompensas fáceis. Ele se faz de compreensivo e compassivo com o objetivo de manipular a relação.
Há como prever o Judas antes da confissão. Pois Judas trai com um beijo. Será alguém que se mostra muito carinhoso de uma hora para outra. Tem pressa de saber tudo a seu respeito, sem nenhuma razão aparente. Aparece forçando a intimidade, com convites generosos e apoios nababescos.
Cuide com o que fala. Porque aquilo que falar mostrará a natureza de suas companhias. A decepção virá rapidamente na forma de um insulto e de uma ironia. No primeiro desentendimento, o túmulo de cimento das palavras não resiste às marteladas da profanação.
A traição será sempre a violação de uma confidência. Os suspeitos não mudam com o tempo. É um colega de trabalho concorrendo com você. É um antigo afeto querendo vingança. É um familiar ressentido com o passado.
Amigo que é amigo escuta e esquece, e jamais volta para o assunto. Ouve e apaga. Escreve na água, para a onda levar. Escreve na areia, para o vento cobrir.
Cumplicidade é como bebedeira, nunca lembrar o que aconteceu durante a vulnerabilidade da conversa.
Amigo que é amigo mantém a decência de uma gaveta, de um cofre, de uma chave. Demonstra a sobriedade educada e gentil de ajudar e desaparecer. Já cumpriu o papel de dividir as dores e frustrações. Não alimenta a ambição de ser maior do que o silêncio.
Publicado em Jornal Zero Hora em 27/08/17
HOMEM SÓ CASA COM QUEM COBRA MAIS QUE A PRÓPRIA MÃE
Foto: Getty Images
Homem sempre reclama das cobranças de sua esposa. Enche a boca de orgulho para resmungar que ela policia os seus horários e impõe restrições.
O que ele esquece é que a mulher somente cobra porque ele é quem quer. Ele adora cobranças. Adora ser reprimido para depois reclamar.
Faz questão de antecipar o horário que volta, expor a sua programação, dizer onde vai e com quem vai. Sem ninguém pedir, vive se explicando e dando satisfações. Já entrega o mapa de sua rotina aguardando o GPS.
Homem é inseguro e ambiciona por alguém de fora que estabeleça limites. Assim ele não executa o que não deveria, mas nunca por falta de vontade, esconde-se no pretexto da submissão. Não é que ele não deseje ser fiel, ele não pode ser infiel. Não é que ele não deseje jogar futebol todo o dia, ele não pode jogar futebol todo o dia. Simplesmente porque ela - a sua megera inventada - não deixa. Mantém a sua pose de poderoso chefão, com o detalhe de que se acha provisoriamente atrás das grades do matrimônio. Sua soltura está vinculada a um habeas corpus. Tanto que sempre parece que foi forçado ao casamento, que nunca é uma opção consciente e sadia. "Não tinha mais como fugir" é o seu epíteto para o amor.
O fetiche por cobranças o alivia da carga de sua responsabilidade. Não precisa se censurar ou dizer não a si mesmo, acusa a sua companhia de cercear e realizar o seu trabalho. Ele espalha a fama de seguir com o que não gosta e assim se isenta da participação dos resultados.
É uma dependência forjada e mentirosa. Ao mesmo tempo, ele apenas consegue amar com implicância e incomodação, com barulho e barraco. Parte do princípio equivocado de que aquela que cobra é a única que se importa e, ao se importar, demonstra que ama. Como se a chatice fosse sinônimo de atenção.
Desde pequeno, ele encontra a disciplina com as ordens maternas - cumprindo o trabalho doméstico a contragosto. Por ele, não arrumaria a cama, não lavaria a louça, não ajeitaria a sua bagunça. Como é obrigado, requisita recompensas e troféus por algo que deveria ser natural.
Por isso ele se afasta e rejeita mulheres autônomas e independentes, financeiramente e afetivamente. Tem medo de perfis livres e vacinados contra a carência, o mimimi e a chantagem.
Ele prefere uma relação simbiótica para desenvolver o mecanismo de superproteção e não vê que transforma a sua esposa em mãe. Aliás, ele só casa com quem cobra mais do que a sua mãe.
Publicado em UOL em 25/08/17
Homem sempre reclama das cobranças de sua esposa. Enche a boca de orgulho para resmungar que ela policia os seus horários e impõe restrições.
O que ele esquece é que a mulher somente cobra porque ele é quem quer. Ele adora cobranças. Adora ser reprimido para depois reclamar.
Faz questão de antecipar o horário que volta, expor a sua programação, dizer onde vai e com quem vai. Sem ninguém pedir, vive se explicando e dando satisfações. Já entrega o mapa de sua rotina aguardando o GPS.
Homem é inseguro e ambiciona por alguém de fora que estabeleça limites. Assim ele não executa o que não deveria, mas nunca por falta de vontade, esconde-se no pretexto da submissão. Não é que ele não deseje ser fiel, ele não pode ser infiel. Não é que ele não deseje jogar futebol todo o dia, ele não pode jogar futebol todo o dia. Simplesmente porque ela - a sua megera inventada - não deixa. Mantém a sua pose de poderoso chefão, com o detalhe de que se acha provisoriamente atrás das grades do matrimônio. Sua soltura está vinculada a um habeas corpus. Tanto que sempre parece que foi forçado ao casamento, que nunca é uma opção consciente e sadia. "Não tinha mais como fugir" é o seu epíteto para o amor.
O fetiche por cobranças o alivia da carga de sua responsabilidade. Não precisa se censurar ou dizer não a si mesmo, acusa a sua companhia de cercear e realizar o seu trabalho. Ele espalha a fama de seguir com o que não gosta e assim se isenta da participação dos resultados.
É uma dependência forjada e mentirosa. Ao mesmo tempo, ele apenas consegue amar com implicância e incomodação, com barulho e barraco. Parte do princípio equivocado de que aquela que cobra é a única que se importa e, ao se importar, demonstra que ama. Como se a chatice fosse sinônimo de atenção.
Desde pequeno, ele encontra a disciplina com as ordens maternas - cumprindo o trabalho doméstico a contragosto. Por ele, não arrumaria a cama, não lavaria a louça, não ajeitaria a sua bagunça. Como é obrigado, requisita recompensas e troféus por algo que deveria ser natural.
Por isso ele se afasta e rejeita mulheres autônomas e independentes, financeiramente e afetivamente. Tem medo de perfis livres e vacinados contra a carência, o mimimi e a chantagem.
Ele prefere uma relação simbiótica para desenvolver o mecanismo de superproteção e não vê que transforma a sua esposa em mãe. Aliás, ele só casa com quem cobra mais do que a sua mãe.
Publicado em UOL em 25/08/17
NEM NO LADO ESQUERDO, NEM NO LADO DIREITO
Foto: Gilberto Perin
O amor nos tira o lugar do sono.
Você nunca dormirá do mesmo jeito depois de casar. Nunca voltará a descansar num lado certo da cama, num canto fixo. Não será mais no lado direito ou esquerdo, será atravessado. Ocupará as linhas verticais e horizontais progressivamente.
Toda a cama estará desarrumada ao despertar. Na adolescência, você se restringia a uma metade. Podia acordar e a segunda metade resistia intocada. Era fácil arrumar as cobertas, bastava ajeitar o montinho.
O amor perturbou a sua bússola. Depois de casado, jamais terá paz. Dormir é também se desesperar por um abraço, uma conchinha, um toque. Dormir é correr por dentro dos lençóis. É o constante medo de perder alguém e o habitual resgate.
Buscará os pés de quem ama no decorrer da madrugada, aceitará a confusão do espaço, não determinará mais o que é seu, enroscará as pernas nas pernas do outro. Não mais dormirá parado como antes. Estático. Estará, pouco a pouco, migrando para o cheiro vizinho. Escorregando para mais além.
Pode se separar, pode pousar longe num hotel, pode ter a cama somente para si, não importa, o seu corpo se encontrará cruzado. A cabeça na esquerda e o tronco na direita. Qualquer que seja a noite, qualquer que seja a manhã. O ninho se espalhou pela árvore inteira. A árvore se espalhou pelo céu.
Acostumou-se a se mexer de modo incessante, a cumprir uma ginástica involuntária, a completar uma coreografia inconsciente. Afasta-se e se aproxima sem parar, vira-se para ficar sozinho mas se sente logo culpado e procura estar junto de novo.
Nunca retornará à uma posição definitiva e calma, de usar apenas uma parte necessária do todo. Enfrentará a sina igual, divorciado ou casado: um crucifixo em movimento, revirando o norte e o sul, o leste e o oeste do quarto. Trata-se de uma herança irreversível da vida de casado.
O amor amputa a tranquilidade da cama. É dormir dobrando o corpo e se amontoando com a companhia.
Publicado em O Globo em 24/08/17
NOSSOS PROFESSORES ESPANCADOS
Arte: Eduardo Nasi
Educação é disciplina, é saber ouvir, é pedir licença e não esquecer do por favor e obrigado.
Educação é respeitar os mais velhos, é levantar a mão para falar, é aprender a ficar em silêncio.
Educação não é entretenimento, diversão, passatempo, lazer, show de música, alvoroço.
Não é feita para agradar os alunos, não é produzida para elogios e bajulação, não é palco para conquistar simpatia.
Educação não é violão e refrão, é voz e firmeza.
Educação não é brincadeira, não é recreação, não é fingimento, não é missa de corpo presente.
Educação é hierarquia, é escala, é obediência, é aceitar a autoridade, é fazer fila indiana, é alinhar as cadeiras, é estudar para prova, é fazer os temas, é perder tempo para adquirir atenção e foco.
Educação é dureza, seriedade, oposição, lidar com aquilo que não se gosta, suportar o desconhecido, enfrentar a ignorância, alfabetizar a emoção, descobrir que não se pode tudo, desligar o celular, afastar-se das redes sociais, calar-se para a frente quando a vontade é falar para os lados.
Educação não é amizade, não é passar a mão na cabeça dos desaforos, não é fugir do confronto.
Educação é se incomodar, é colocar de castigo, é repreender, é suspender, é censurar, é ser democrático nas exigências, é enfrentar os interesses da turma. É não ter compaixão, é reprovar se necessário, é não dar desconto, não realizar vista grossa. É a caneta vermelha formando uma cerca para o erro não se tornar hábito.
Os professores não devem ser simpáticos, legais, amáveis – ensinar não tem a ver com obter unanimidade e faixas -, devem se mostrar somente como referências de conteúdo, metodologia e ordem.
Educação não é para ser moderna e avançada, e sim clássica e tradicional. Quanto mais antiga mais atual. Quanto maior o passado maior o futuro.
O que aconteceu com a professora na escola pública de Indaial (SC) mostra o quanto perdemos o rumo. Marcia Friggi relatou nesta segunda-feira (21) ter sido agredida por aluno de 15 anos. Recebeu uma sequência de socos após expulsar o estudante por mau comportamento.
Se chegamos ao extremo de testemunhar um professor ser espancado e achar normal, não há mais nenhum degrau para descer na degradação humana. Se encontramos atenuantes e explicações para tamanha monstruosidade já convertemos as escolas em penitenciárias. Transformamos a tolerância em omissão criminosa. Extraviamos a civilidade para sobrevivermos como bichos, regidos pelo medo e pela truculência.
O desastre parece inexplicável, porém não foi freado a tempo quando surgiram os primeiros sinais. Começa com uma inofensiva brincadeira e se deixa passar. Depois o estudante ganha confiança, importância com os colegas, assume a sua liderança na maldade e passa a insultar o professor. Como nada é feito, ele se sente no direito de perseguir e ameaçar dentro e fora da sala de aula. Como nada nada é feito, espera o professor na saída para exercer a sua vingança verbal e hostilizar a sua família. Como nada nada nada é feito, vê total impunidade para agredir, depois espancar e, por fim, matar. E é tarde para recuperar os danos.
Um país que não respeita o professor jamais será digno do hasteamento da bandeira e do hino nacional.
No Brasil, o giz branco está manchado de sangue.
Publicado em Vida Breve em 23/08/17
TODO MUNDO TEM UM POUCO
Com a atual evolução da medicina, não haveria super-heróis.
O incrível Hulk, antes de sua transformação verde, tomaria Rivotril e jamais perderia as suas roupas. Poderia até arrumar um trabalho irritante de teleoperador ou de segurança de boate e não mais se irritaria com nada. Batman seria medicado com antidepressivos para contornar o trauma de ter visto os seus pais assassinados em sua frente. Não iria se fantasiar de morcego nem morar em cavernas. Talvez se transformasse em corretor imobiliário. Wolverine, com alentadas sessões de hipnose e regressão, superaria seus antecedentes bastardos, já que foi fruto da infidelidade de sua mãe, Elizabeth Howletts, com Thomas Logan, o jardineiro da mansão. Representaria o Canadá na equipe de esgrima nas Olimpíadas. O Homem-Aranha, com aplicação de um forte antialérgico, estaria normalzinho e, no máximo, subiria em andaimes para pintar murais em prédios nova-iorquinos.
Todos têm em comum a sede de vingança. Todos apresentam um defeito hipertrofiado. Ninguém é herói por uma virtude. Mas por uma falha trabalhada ao extremo a ponto de virar uma arma.
Nenhum traz bons sentimentos. Recalques e transtornos é o que provoca os superpoderes. Conservam a humanidade de perdas e dores debaixo das capas e das fantasias invencíveis. Eles procuram a justiça porque sentiram na pele a falta dela.
E a maior parte dos ídolos da Marvel estaria catalogada com sintomas de esquizofrenia ou psicose ou histeria ou dupla personalidade ou borderline.
Com receitas médicas, a Liga da Justiça estaria extinta.
Numa sociedade que endeusa o equilíbrio, que os super-heróis nos devolvam a sanidade. É de se pensar que suportar um naco de sofrimento não é tão grave assim. Gera disciplina e obstinação. Produz entendimento e empatia com outro. Cria referenciais para a superação de adversidades.
Não devemos nos automedicar nem seguir tratamentos indicados por amigos, muito menos prosseguir com a intolerância máxima a qualquer mal-estar. É preciso aguentar um turno de enxaqueca ou cinco minutos de azia. É salutar não resolver tudo na hora com comprimidos.
A dor não mata, mas a falta de dor com medicação excessiva é assassina, não ajudando a nos prevenir da dependência e nos tirando a força para nos defendermos, sozinhos e sóbrios, da vida.
Os remédios são um controle falso do corpo.
E, se usados com frequência, não de modo especial e provisório, sem a devida orientação, escravizam e alteram o nosso temperamento.
A medicina serve para amparar a humanidade, não substituí-la.
Não dá para curar cem por cento os problemas — que é neutralizar a espontaneidade.
De super-herói e louco, todo mundo sempre terá um pouco.
Publicado em Jornal Zero Hora em 22/08/17
O incrível Hulk, antes de sua transformação verde, tomaria Rivotril e jamais perderia as suas roupas. Poderia até arrumar um trabalho irritante de teleoperador ou de segurança de boate e não mais se irritaria com nada. Batman seria medicado com antidepressivos para contornar o trauma de ter visto os seus pais assassinados em sua frente. Não iria se fantasiar de morcego nem morar em cavernas. Talvez se transformasse em corretor imobiliário. Wolverine, com alentadas sessões de hipnose e regressão, superaria seus antecedentes bastardos, já que foi fruto da infidelidade de sua mãe, Elizabeth Howletts, com Thomas Logan, o jardineiro da mansão. Representaria o Canadá na equipe de esgrima nas Olimpíadas. O Homem-Aranha, com aplicação de um forte antialérgico, estaria normalzinho e, no máximo, subiria em andaimes para pintar murais em prédios nova-iorquinos.
Todos têm em comum a sede de vingança. Todos apresentam um defeito hipertrofiado. Ninguém é herói por uma virtude. Mas por uma falha trabalhada ao extremo a ponto de virar uma arma.
Nenhum traz bons sentimentos. Recalques e transtornos é o que provoca os superpoderes. Conservam a humanidade de perdas e dores debaixo das capas e das fantasias invencíveis. Eles procuram a justiça porque sentiram na pele a falta dela.
E a maior parte dos ídolos da Marvel estaria catalogada com sintomas de esquizofrenia ou psicose ou histeria ou dupla personalidade ou borderline.
Com receitas médicas, a Liga da Justiça estaria extinta.
Numa sociedade que endeusa o equilíbrio, que os super-heróis nos devolvam a sanidade. É de se pensar que suportar um naco de sofrimento não é tão grave assim. Gera disciplina e obstinação. Produz entendimento e empatia com outro. Cria referenciais para a superação de adversidades.
Não devemos nos automedicar nem seguir tratamentos indicados por amigos, muito menos prosseguir com a intolerância máxima a qualquer mal-estar. É preciso aguentar um turno de enxaqueca ou cinco minutos de azia. É salutar não resolver tudo na hora com comprimidos.
A dor não mata, mas a falta de dor com medicação excessiva é assassina, não ajudando a nos prevenir da dependência e nos tirando a força para nos defendermos, sozinhos e sóbrios, da vida.
Os remédios são um controle falso do corpo.
E, se usados com frequência, não de modo especial e provisório, sem a devida orientação, escravizam e alteram o nosso temperamento.
A medicina serve para amparar a humanidade, não substituí-la.
Não dá para curar cem por cento os problemas — que é neutralizar a espontaneidade.
De super-herói e louco, todo mundo sempre terá um pouco.
Publicado em Jornal Zero Hora em 22/08/17
MALANDRAGEM FAMILIAR
Quando alguém de casa me pergunta se eu vi determinada coisa, não está, na verdade, me questionando, está me culpando e me pondo a trabalhar para achar. A incriminação é falsa, um oportuno artifício para ganhar a atenção. Pois tenho que provar a inocência de uma hora para outra. Sou obrigado a cessar as minhas preocupações, por mais importantes que sejam, para investigar onde a pessoa deixou o objeto. Azar dos textos encomendados, das leituras em aberto, dos contatos a responder na caixa de mensagens.
O interesse de quem perdeu é criar pânico, mobilizar a casa para resolver o desaparecimento. É parar tudo e todos em nome de uma causa pessoal. E aquele que perde sempre está atrasado, prestes a sair, com a mão na maçaneta, o que agrava a urgência.
A acusação é absurda. Não toquei naquele pertence nos últimos dias. Mas, por ser descabida, fico com vontade de esfregar na cara que não fui eu.Não percebia antes a moral da cilada. O propósito é mesmo sortear a responsabilidade para desfrutar de investigadores de graça. O babaca aqui, disposto a provar algo que não fez, dedica os seus melhores esforços na procura.
Já quem esqueceu o paradeiro do objeto costuma se tranquilizar com a movimentação frenética das equipes de busca e permanece parado, apenas coordenando de longe a gincana. Ele cria uma história de que é vítima de um enxerido, da arrumação alheia, e não se mexe. É a maior malandragem da vida familiar. Quando a coisa sumida reaparece é num lugar engraçado, deixado por nada menos do que o seu próprio dono. Ele, aliviado, enterra o assunto e a difamação dos próximos. Nem pede desculpa aos suspeitos.
Acabo sempre recrutado para caça ao tesouro. Os filhos e esposa se aproveitam da minha ansiedade. Reencontrei brinquedos escondidos nas estantes, celulares no estofo do sofá, brincos no tapete fofo da sala. Sou um Google Maps dos extravios.
Da próxima vez, não sofrerei à toa, chamarei de pronto o meu advogado.
Publicado em Jornal Zero Hora em 20/08/17
O interesse de quem perdeu é criar pânico, mobilizar a casa para resolver o desaparecimento. É parar tudo e todos em nome de uma causa pessoal. E aquele que perde sempre está atrasado, prestes a sair, com a mão na maçaneta, o que agrava a urgência.
A acusação é absurda. Não toquei naquele pertence nos últimos dias. Mas, por ser descabida, fico com vontade de esfregar na cara que não fui eu.Não percebia antes a moral da cilada. O propósito é mesmo sortear a responsabilidade para desfrutar de investigadores de graça. O babaca aqui, disposto a provar algo que não fez, dedica os seus melhores esforços na procura.
Já quem esqueceu o paradeiro do objeto costuma se tranquilizar com a movimentação frenética das equipes de busca e permanece parado, apenas coordenando de longe a gincana. Ele cria uma história de que é vítima de um enxerido, da arrumação alheia, e não se mexe. É a maior malandragem da vida familiar. Quando a coisa sumida reaparece é num lugar engraçado, deixado por nada menos do que o seu próprio dono. Ele, aliviado, enterra o assunto e a difamação dos próximos. Nem pede desculpa aos suspeitos.
Acabo sempre recrutado para caça ao tesouro. Os filhos e esposa se aproveitam da minha ansiedade. Reencontrei brinquedos escondidos nas estantes, celulares no estofo do sofá, brincos no tapete fofo da sala. Sou um Google Maps dos extravios.
Da próxima vez, não sofrerei à toa, chamarei de pronto o meu advogado.
Publicado em Jornal Zero Hora em 20/08/17
O GRANDE VEXAME QUE É DESAMAR
Foto: Getty Images/iStockphoto
Não existe maior constrangimento do que deixar de amar. Dificilmente haverá uma vergonha maior. Nem a traição, muito menos a deslealdade gera colossal timidez. Pois, com a traição e a deslealdade, você ainda acredita que pode se redimir e pedir perdão com trabalho forçado. Já a falta de amor não tem conserto. Acabou em si qualquer dúvida, qualquer vontade de discutir e melhorar. Está seco para segurar o fogo, como um tapete de cera no altar de promessas.
O amor desapareceu e, com ele, o brilho do olhar, a curiosidade da boca e a atenção do corpo. É um morto caseiro, não um morto público. Um morto somente para uma pessoa, para as demais ainda vive.
Ficará absolutamente sem graça para explicar para a parte interessada o que aconteceu. Não há um motivo específico. Deixou de amar simplesmente. Como dar a notícia para quem talvez ainda o ame? Dizer meus pêsames? Abraçar e desejar boa sorte?
Pela primeira vez, enxerga a sua companhia como uma ex. Terá que lidar, ao mesmo tempo, com a novidade, com a estranheza íntima e acalmar os ânimos.
Não é simples. Quem deixa de amar carrega a dramaticidade de um impostor nas palavras. Porque foram feitas promessas de longevidade que não surtem mais efeito. Não mentiu enquanto amava, mas agora que não ama o passado de juras e felizes para sempre será visto como uma mentira. Uma grande e deslavada mentira.
O desejo sumiu, a intenção de permanecer sumiu, não dói fazer a mala, não é mais nenhuma chantagem ou agressão, não provoca uma cena para apressar a reconciliação e vencer a discussão por nocaute, não desfruta sequer da vontade de chorar e de gritar, nada que possa ser dito mudará a natureza do fim, é apenas um desprendimento total. Quer sair dali correndo, entretanto ninguém corre num cemitério, sob o risco de pisar nos falecidos, derrubar as flores e vasos entre as lápides. Precisa caminhar devagar, rezar e enfrentar o vazio.
Estará sozinho frente a alguém desesperado, atormentado, incrédulo, quase sentindo pena. Compaixão de si pela tarefa de comunicar o que não entende.
Publicado em UOL em 18/08/17
O MEL DO AMOR
Foto: Gilberto Perin
O amor começa puro, sem mentiras, sem segredos, sem vergonha. É uma confiança absoluta, uma lealdade invejável. Como o mel lá de casa. Como o mel em todas as casas.
É só ter preguiça e comer o mel no pote, colocando a colher com a saliva de volta no conteúdo que o mel azeda. Quimicamente muda o gosto dos favos. Dali por diante, as confissões são favas contadas.
Quando deixa o pote aberto, a relação escancarada, a umidade pode alterar o mel pois terá água para uma bactéria do ódio se desenvolver.
É só narrar tudo o que acontece para os outros que o mel dos laços estraga.
O risco não é descrever apenas tudo o que acontece na vida a dois. É descrever também tudo o que não acontece, e cobrar desejos com juros e correção.
O romance fica exposto, sujeito a julgamentos e mentiras. Você perde o controle das lembranças a partir de conselhos e intromissões de familiares e de amigos.
Permite o contágio da inveja e do ciúme do mundo externo. Os dias adoecem de suspeitas. Há a descrição de pensamentos como se fossem fatos, e o exagero vai minando a verdade. Ao narrar o que se vive cada ouvinte aumentará um ponto. O que era poesia vira conto de terror e o que era conto de terror vira romance de suspense. Quem é distraído receberá a fama de indiferente, quem é estressado receberá a fama de egoísta.
A difamação sempre começa do casal para fora, não vem de fora para dentro. No momento em que se lambe a colher e se confunde o medo com a realidade e o coração sai pela boca.
Temos que selecionar o que vale ou não vale dizer do namoro ou do casamento. E guardar o que não é certeza e dividir o que é convicção. Jamais jogar fora o esforço secreto das abelhas por bobagens. Jamais inverter o trabalho dos insetos e converter o açúcar em pólen.
O mel do amor morre com a fofoca.
Publicado em O Globo em 17/08/17
DIVIDINDO OS MEDOS
Arte: Eduardo Nasi
A paixão cresce ao dividir os medos.
Os apaixonados dividem a ansiedade, dividem a falta de fome, dividem as madrugadas, dividem a excitação, dividem as distrações, dividem o formigamento, mas principalmente o medo.
Estava no voo ao lado de um casal que começava a ficar junto. Eu percebia o frescor da relação porque um estava tentando desesperadamente ser mais simpático do que o outro. Implicavam e se elogiavam, provocavam a raiva e se amansavam. Não havia trégua na guerrinha de sinais. Um tapa nos ombros e um beijo em seguida. Um empurrão e um abraço. Uma careta e um beicinho. Experimentavam uma alternância assustadora para os demais passageiros, menos para eles, entretidos em se conhecerem e testarem os limites das próprias fronteiras.
O mais fascinante é que brincavam com o medo de voar. Ambos confessavam o pânico com felicidade. Não suavam frio, não arcavam com os sintomas de imobilidade nervosa e taquicardia, não engoliam o fôlego. Demonstravam um contentamento improvável. Tudo era pretexto para dar as mãos e suspirar simultaneamente, segurando o encosto da poltrona da frente, tal barra de um carrinho numa montanha-russa.
Divertiam-se com as turbulências, com as quedas bruscas de altitude, com o aviso fúnebre para afivelar os cintos.
Reconheciam os sustos como se fossem ilusões de um parque, não consequências reais de uma aeronave.
Quando ele comentou que não se importava de morrer, pois morreria com ela, não aguentei, tive que enjaular os meus ouvidos nos fones para conquistar um pouco de paz.
Publicado em Vida Breve em 16/08/17
AS VELAS DA MINHA CORAGEM
Sou amigo de meus medos. Sei que o medo é apenas o começo da valentia.
Puxo conversa com os meus medos. Vejo o que tem dentro deles, o que eles pensam, não deixo irem embora sem uma xícara de café. Medo não é ruim, é um alerta do que é importante para nós.
Sofri muito medo na vida: de não ser aceito, de não ser amado, de simplesmente não ser. Mas fiz terapia com os meus medos, porque eles são portas para resolver e acalmar rejeições antigas.
Não tive facilidades, mesmo sendo branco, de família com recursos, heterossexual. O medo não tem cor, não tem gênero, não tem forma. O medo é democrático e se estende a todos.
Sofria por ser diferente. Diferente significa esquisito. Fala presa, feio e com o raciocínio fora da ordem normal da rotina.
Na escola, era visto como um desvio. Um erro que precisava ser eliminado. Um monstro de circo para se rir e pagar ingresso.
Afinal, a turma não sabia o que fazer comigo. Eu não me mostrava parecido com ninguém. Sofria zoeira, gozação, humilhações. E voltava para casa de mãos dadas com os meus medos.
Sofria corredor polonês, os colegas baixavam a minha calça de abrigo na frente das meninas, ameaçavam me jogar pela janela do refeitório, me esperavam na saída para me bater em grupo.
Toda vez que eu apanhava por não obedecer aos padrões, apanhava por apanhar, apanhava não entendendo de onde vinha tamanha violência e ódio por mim, já que não tinha feito nada a não ser nascer e querer estudar, simplesmente não chorava porque contava com a escolta do irmão Rodrigo, o mais velho dos guris, o pai suplente quando o pai se separou da mãe.
Eu chegava em casa machucado. Ele me recebia em silêncio cicatrizante, me botava na cadeira alta da cozinha e se ajoelhava diante de mim em máxima humildade. Tirava as minhas botas ortopédicas, as meias, limpava as feridas com água oxigenada e passava mercúrio nos meus joelhos esfolados. Pintava a linha pontilhada dos meus machucados, como um desenho preenchido pela caixinha Faber Castell 48 cores.
Em seguida, soprava as feridas para não arder.
Lembro que ele me dizia:
— Estou soprando as velas de aniversário de sua coragem!
Ele não me defendia unicamente das agressões, ele me defendia dos meus próprios medos.
Publicado em Jornal Zero Hora em 15/08/17
Puxo conversa com os meus medos. Vejo o que tem dentro deles, o que eles pensam, não deixo irem embora sem uma xícara de café. Medo não é ruim, é um alerta do que é importante para nós.
Sofri muito medo na vida: de não ser aceito, de não ser amado, de simplesmente não ser. Mas fiz terapia com os meus medos, porque eles são portas para resolver e acalmar rejeições antigas.
Não tive facilidades, mesmo sendo branco, de família com recursos, heterossexual. O medo não tem cor, não tem gênero, não tem forma. O medo é democrático e se estende a todos.
Sofria por ser diferente. Diferente significa esquisito. Fala presa, feio e com o raciocínio fora da ordem normal da rotina.
Na escola, era visto como um desvio. Um erro que precisava ser eliminado. Um monstro de circo para se rir e pagar ingresso.
Afinal, a turma não sabia o que fazer comigo. Eu não me mostrava parecido com ninguém. Sofria zoeira, gozação, humilhações. E voltava para casa de mãos dadas com os meus medos.
Sofria corredor polonês, os colegas baixavam a minha calça de abrigo na frente das meninas, ameaçavam me jogar pela janela do refeitório, me esperavam na saída para me bater em grupo.
Toda vez que eu apanhava por não obedecer aos padrões, apanhava por apanhar, apanhava não entendendo de onde vinha tamanha violência e ódio por mim, já que não tinha feito nada a não ser nascer e querer estudar, simplesmente não chorava porque contava com a escolta do irmão Rodrigo, o mais velho dos guris, o pai suplente quando o pai se separou da mãe.
Eu chegava em casa machucado. Ele me recebia em silêncio cicatrizante, me botava na cadeira alta da cozinha e se ajoelhava diante de mim em máxima humildade. Tirava as minhas botas ortopédicas, as meias, limpava as feridas com água oxigenada e passava mercúrio nos meus joelhos esfolados. Pintava a linha pontilhada dos meus machucados, como um desenho preenchido pela caixinha Faber Castell 48 cores.
Em seguida, soprava as feridas para não arder.
Lembro que ele me dizia:
— Estou soprando as velas de aniversário de sua coragem!
Ele não me defendia unicamente das agressões, ele me defendia dos meus próprios medos.
Publicado em Jornal Zero Hora em 15/08/17
NÃO HÁ MAIOR COVARDIA DO QUE ENCORAJAR ALGUÉM SEM AMAR
Foto: iStock
O amor do outro pode ser perigosa vaidade.
Não há nada mais sádico do que encorajar a paixão de alguém quando você não sente o mesmo. Deseja apenas ver até onde vai. Brinca com a seriedade das intenções alheias. Percebe as cantadas e não corta na raiz, pois pretende embelezar o quarto com as rosas. Faz com que a pessoa entenda errada a mensagem intencionalmente. Não quer, não ama, não é o seu tipo, porém curte o prazer da bajulação. Gaba-se da perseguição apaixonada, das mensagens exageradas.
Poderia avisar que não está a fim e liberar a alma antes que seja tarde, antes de um envolvimento comprometedor. Só que exercita a megalomania, não renuncia a distração, aproveita-se da carência e da disponibilidade da companhia. Transforma o pretendente num estagiário de seus caprichos, um office-boy de suas ilusões, pedindo favores inúteis, sem lógica e sem emoção.
Não aceita apenas o flerte, os agrados e as juras, mas dá corda. Perversamente agradece o elogio fingindo não deduzir o interesse por detrás.
Gosta dos paparicos, é um passatempo ajudar na construção de uma idealização e depois destruí-la com um sopro.
Desperta, impulsiona, sustenta a relação platônica com frases ambíguas, mesmo longe de qualquer frenesi.
Enquanto testemunha o circo de presentes e mimos, zomba do candidato com os amigos e amigas pelas costas. Faz com que seja um príncipe na privacidade e um bobo da corte publicamente. Age com duas caras: uma visível para manter a sedução (involuntária) e uma oculta (consciente) para troçar das investidas.
Você coloca uma venda na vítima para ela cair no precipício. É muita maldade a ausência de sinceridade desde o início, com o claro objetivo de gerar enganos e frustrações.
Quem faz isso está prostituindo o amor, quem faz isso está se vingando de decepções antigas, quem faz isso possui um corredor vazio de museu na aorta.
O final previsível acentua o desastre. Quando ele ou ela se declarar, falar o "eu te amo" com os olhos ajoelhados, quando não restar mais chances de fingir, usará a frieza mais mórbida e dirá que é um engano, que houve o entendimento errado da aproximação e que gostaria que continuassem amigos.
Causar a dor de modo desnecessário é papel de covardes.
Publicado em UOL em 14/08/17
CENTOPEIA DE ESPÍRITO
Nunca vi nenhuma mulher selecionar os seus sapatos para a campanha de agasalho (até porque elas acreditam que sapato não é agasalho). São generosas, e oferecem roupas novas, recentes, que não servem mais. Realizam limpas no armário mensalmente, separam o que não agrada com bonança. Nunca deixam nada parado, sem utilidade para o próximo. Mas sapato, não. Sapato é imortal para a mulher. Sapato pode estragar, adoecer, só que não morre. Sapato pode perder a sola, o bico, arrebentar as tiras, porém recebe a condecoração da permanência. Ou ele é levado para um sapateiro de confiança ou fica em coma numa sacolinha com sachê.Mulher ama sapatos, de homens apenas gosta e nem todo dia.
Quando o sapato não corresponde às expectativas, ela repassa a uma amiga torcendo para a felicidade dos dois. É o máximo de caridade que alcança nesse quesito. Jogar fora, nunca. Tampouco das caixas consegue se desfazer. Não elimina coisa alguma: conserva o ventre dos sapatos, a placenta dos sapatos, o cordão umbilical dos sapatos.
Já observei botas, tênis e calçados masculinos na rua, no lixo e no meio-fio, gestos impensáveis para o universo feminino. Mulher é uma centopeia de espírito. Não compra quando precisa. Compra para criar necessidades. Jamais conta quantos pares possui _ é um número aberto e infinito. Apesar das mil e uma noites, ela sabe de cor os que usou e onde fez a sua estreia. Por maior que seja a coleção, acha que ainda tem pouco. Não considera o estoque suficiente. Vive uma repescagem nas lojas, caçando tipos favoritos de edições passadas. Tanto que a mulher não lamenta amores perdidos, e sim chora por não ter adquirido um par a mais daquele salto predileto.
Sapato é o xamã para as mulheres. Cura demissões, tristezas e depressões. Em casos graves, a solução é a superdose: arrebatar vários em um único dia.
Se o homem deseja terminar um relacionamento, existe uma receita ideal que poupa saliva e dispensa enfrentamentos exaustivos. Basta arremessar scarpins de sua esposa na parede. Ou despejar a gaveta de sandálias pela janela. Ou arrebentar os fechos das botas. Ou preparar macarrão com as rasteirinhas.
Não sofrerá discutindo. A porta baterá para sempre e ela, certamente, não colocará também você na campanha de agasalho.
Publicado em Jornal Zero Hora em 13/08/17
Quando o sapato não corresponde às expectativas, ela repassa a uma amiga torcendo para a felicidade dos dois. É o máximo de caridade que alcança nesse quesito. Jogar fora, nunca. Tampouco das caixas consegue se desfazer. Não elimina coisa alguma: conserva o ventre dos sapatos, a placenta dos sapatos, o cordão umbilical dos sapatos.
Já observei botas, tênis e calçados masculinos na rua, no lixo e no meio-fio, gestos impensáveis para o universo feminino. Mulher é uma centopeia de espírito. Não compra quando precisa. Compra para criar necessidades. Jamais conta quantos pares possui _ é um número aberto e infinito. Apesar das mil e uma noites, ela sabe de cor os que usou e onde fez a sua estreia. Por maior que seja a coleção, acha que ainda tem pouco. Não considera o estoque suficiente. Vive uma repescagem nas lojas, caçando tipos favoritos de edições passadas. Tanto que a mulher não lamenta amores perdidos, e sim chora por não ter adquirido um par a mais daquele salto predileto.
Sapato é o xamã para as mulheres. Cura demissões, tristezas e depressões. Em casos graves, a solução é a superdose: arrebatar vários em um único dia.
Se o homem deseja terminar um relacionamento, existe uma receita ideal que poupa saliva e dispensa enfrentamentos exaustivos. Basta arremessar scarpins de sua esposa na parede. Ou despejar a gaveta de sandálias pela janela. Ou arrebentar os fechos das botas. Ou preparar macarrão com as rasteirinhas.
Não sofrerá discutindo. A porta baterá para sempre e ela, certamente, não colocará também você na campanha de agasalho.
Publicado em Jornal Zero Hora em 13/08/17
O FIM RECOMEÇO
Foto: Gilberto Perin
O fim e o início são próximos. Não estão distanciados nem por um passo.
O que já testemunhei de amigo convicto da separação e logo depois marcava casamento. E a noiva era a futura ex. O que já testemunhei de parceiro que diz que a relação acabou num dia e noutro dia parte em viagem apaixonada de férias. Ou que cantou o término do romance para engravidar na sequência.
Discussão de relacionamento é paranormal. Fantasmas ressuscitam, garfos entortam, aparecem vozes na cabeça, casais levitam. Não há como definir os desdobramentos espíritas e acertar o resultado. Sempre surge um gol nos descontos da partida mudando o vencedor.
A pessoa pode ensaiar o discurso de despedida no espelho, e puxar um diferente do bolso na hora H.
As decisões sozinhas não persistem frente a frente. Um sexo selvagem é capaz de arrancar as certezas. Uma declaração apaixonada é capaz de roubar as ofensas. Um pedido de desculpa é capaz de enfraquecer o ódio.
A véspera da ruptura é enlouquecedora. Quando está prestes a se separar, o que costuma ocorrer é o contrário: uma forçada e inesperada renovação dos votos, uma surpreendente prorrogação dos laços. Você se sente culpado e se compromete ainda mais. Terá que telefonar para todos os amigos explicando o recálculo abrupto de rota. Ninguém entenderá, como sempre, o amor é um mistério até para quem ama.
Publicado em O Globo em 10/08/17
SUJOS E MALVADOS
Arte: Eduardo Nasi
Mulher toma banho mais vezes que o homem. Não neurotiza o gesto, simples e prático como pentear os cabelos ou se olhar no espelho.
Já o homem complica. Quando casa, volta à infância e retoma a sua mania de economizar a pele. Cabula o máximo possível, como se estivesse na estação da Antártida. Adia, finge que não é com ele, partidário da água como urgência para sair ou honrar algum compromisso profissional. Não difere do tempo de pequeno, quando escondia os pés sujos da mãe para dormir em paz, sem o pedágio do chuveiro.
A mulher é limpinha, obcecada em se lavar mesmo quando não é necessário. O homem compra briga mesmo quando é necessário.
Dificilmente a mulher virá para o sexo antes de um toque de higiene. Sempre dá uma conferida no banheiro. Renova o perfume. Ajeita a sensualidade da roupa. Coloca um jato de água nas partes pudendas. Prepara-se para a dança dos corpos nos lençóis. Preocupa-se realmente com o seu estado.
Em contraste, o homem passa reto. Vai direto para a travas. Crê que não depende de nada, de nenhuma flor na lapela do peito, porque defende o cheiro natural. Defender o cheiro natural é defender somente a sua preguiça ancestral. A mulher que se vire. O desleixo sempre foi machismo.
A questão é que nem sofre pois jamais se habituou a se cuidar para o outro, ou agradar ao outro. Confia que quem gosta dele tem que aceitar do jeito que ele é. Mesmo que seja estilo mecânico depois do serviço. Entende a graxa como a sua graça.
Comete o engano de desprezar o detalhe. Está com o desodorante vencido, suado e cavernoso e não vê nenhum mal nisso. Acha que é um gato e um banho de língua resolve. Mas não com a sua língua, claro. Não há Halls no mundo que disfarce o odor de xixi.
Publicado em Vida Breve em 09/08/17
PESSOAS RETRÔ
Pagamos caro por objetos retrô. Não economizamos para ter uma geladeira Steigleder branca igualzinha à que existia na casa da avó. Ou um aparelho três em um idêntico ao que reinava na estante da sala. Somos colecionadores de nossos hábitos.
E aceitamos até os defeitos de volta. Queremos uma geladeira barulhenta como a de outrora, onde secávamos as meias nas grades de trás durante o inverno. E queremos um vinil que traga ruídos de cigarras e que pare mesmo em algumas canções.
Nossa vontade é pelo retorno da afetividade das coisas, somos capazes de girar o mundo à cata de relíquias, somos capazes de imersão digital em sites de busca, somos capazes de lances absurdos e irreais no pregão da infância. Não nos assustamos com os valores abusivos e agimos com ansiedade pelos negócios fechados a martelo das bolsas.
Parece bonito o apego, mas não é. Porque não damos valor nenhum para as pessoas retrô de nossas vidas.
Nossa avó, mais do que a geladeira, está ali disponível com a sua prodigiosa tapeçaria da memória e não a acolhemos em nossa casa. Nossos pais, mais do que o três em um, estão ali disponíveis com as suas histórias dentro de trilhas favoritas e sequer contamos com a paciência de ouvi-los.
Procuramos reaver um tempo sem os seus personagens principais. Acabamos nos interessando por um tempo vazio, absolutamente decorativo. E desprezamos o tempo real, vivo e biológico que corre em nossas veias e em nossos nomes.
As pessoas retrô são postas de lado, abandonadas. Logo elas, loucas por atenção. Reclamamos de suas falhas, naturais para a idade, para justificar um confortável distanciamento.
Por que se preocupar com a pele do passado se podemos garantir o luxo da alma, a reconstituição exata e emocional do que vivemos com quem nos criou?
Não há livro antigo que reproduza a sabedoria de minha mãe. Em vez de comprar uma edição rara em sebo, basta convidá-la a almoçar, que já desfruto de uma biblioteca inteira de primeiras edições.
É o sobrenatural da simplicidade me ensinando a ser feliz. Uma encadernação em movimento soltando as suas folhas e frases marcantes.
Ela me contou, por exemplo, que está grávida aos 78 anos. É um milagre mesmo. Disse para mim que "onde toca, engravida". Eu acredito. Pois ela toca em uma orquídea e fica grávida da mais sincera gargalhada. Ela toca em um parapeito de uma janela e fica grávida de uma rua. Ela toca em uma roupa no varal e fica grávida do sol. Ela toca em um castiçal e fica grávida das estrelas.
Não há como permanecer longe e indiferente a tantos novos irmãos surgindo a todo instante.
Publicado em Jornal Zero Hora em 08/08/17
E aceitamos até os defeitos de volta. Queremos uma geladeira barulhenta como a de outrora, onde secávamos as meias nas grades de trás durante o inverno. E queremos um vinil que traga ruídos de cigarras e que pare mesmo em algumas canções.
Nossa vontade é pelo retorno da afetividade das coisas, somos capazes de girar o mundo à cata de relíquias, somos capazes de imersão digital em sites de busca, somos capazes de lances absurdos e irreais no pregão da infância. Não nos assustamos com os valores abusivos e agimos com ansiedade pelos negócios fechados a martelo das bolsas.
Parece bonito o apego, mas não é. Porque não damos valor nenhum para as pessoas retrô de nossas vidas.
Nossa avó, mais do que a geladeira, está ali disponível com a sua prodigiosa tapeçaria da memória e não a acolhemos em nossa casa. Nossos pais, mais do que o três em um, estão ali disponíveis com as suas histórias dentro de trilhas favoritas e sequer contamos com a paciência de ouvi-los.
Procuramos reaver um tempo sem os seus personagens principais. Acabamos nos interessando por um tempo vazio, absolutamente decorativo. E desprezamos o tempo real, vivo e biológico que corre em nossas veias e em nossos nomes.
As pessoas retrô são postas de lado, abandonadas. Logo elas, loucas por atenção. Reclamamos de suas falhas, naturais para a idade, para justificar um confortável distanciamento.
Por que se preocupar com a pele do passado se podemos garantir o luxo da alma, a reconstituição exata e emocional do que vivemos com quem nos criou?
Não há livro antigo que reproduza a sabedoria de minha mãe. Em vez de comprar uma edição rara em sebo, basta convidá-la a almoçar, que já desfruto de uma biblioteca inteira de primeiras edições.
É o sobrenatural da simplicidade me ensinando a ser feliz. Uma encadernação em movimento soltando as suas folhas e frases marcantes.
Ela me contou, por exemplo, que está grávida aos 78 anos. É um milagre mesmo. Disse para mim que "onde toca, engravida". Eu acredito. Pois ela toca em uma orquídea e fica grávida da mais sincera gargalhada. Ela toca em um parapeito de uma janela e fica grávida de uma rua. Ela toca em uma roupa no varal e fica grávida do sol. Ela toca em um castiçal e fica grávida das estrelas.
Não há como permanecer longe e indiferente a tantos novos irmãos surgindo a todo instante.
Publicado em Jornal Zero Hora em 08/08/17
ONDE COLOCAR AS UNHAS?
Foto: Reprodução Donna
Nunca vi minha mulher cortando as unhas em casa. Se ela faz, é de modo discreto e imperceptível. Seu costume é arrumar no salão.
O meu problema é que deixo as unhas crescerem até furar as meias. E depois não é mais um corte, e sim um abate.
Deveríamos receber um saquinho plástico, tipo o existente em avião para desconforto, com uma cordinha e a recomendação desenhada dos possíveis acidentes.
E não há lugar para cortar em paz, sem ser chamado à atenção. Como são lâminas já, cascos já, é enfiar a tesourinha e a unha salta para nunca mais localizá-la. Deve ir para debaixo de algum móvel, assim como copo quando se despedaça.
Após dois meses, são unhas voadoras, unhas morcegos. Criam asas.
Daí me lembro por que demoro para apará-las, é sempre o mesmo impasse. Retardo ao máximo e apenas tomo uma atitude quando a minha mulher não aguenta mais e reclama dos arranhões com a carícia dos meus pés na cama.
Não raciocino que o adiamento acentua a força do arremesso. Quanto o maior tempo sem ajeitar, maior a compressão do OVNI.
Não tem muito o que fazer: o cortador é uma alavanca para longe. Não há como reunir a sujeira, o montinho, e botar no lixo. Aliás, lixo é o lugar. Uma vez coloquei na privada e uma amostra grátis restou na tampa para nojo da minha adorável companhia.
Onde cortar é um drama masculino. Tentei podar no quarto e foi uma calamidade. Motivo de divórcio a esposa achar um resquício dos meus pés nos lençóis. Tentei na sala e temo que um dia as ossadas sejam localizadas no tapete felpudo e termine condenado pelo crime de porquice. Na cozinha, nem pensar. No banheiro, com os azulejos brancos, é uma odisseia identificar as foragidas. Mais fácil encontrar uma tarraxa de um brinco do que uma unha. Mais fácil encontrar uma tarraxa transparente de um brinco do que uma unha.
Atinjo a curiosa conclusão de que as unhas mijam de pé. Nunca acertam o vaso. É outra disfunção do nosso universo viril.
Publicado em Donna em 07/08/17
LIXEIRA DO WINDOWS
Foto: Gilberto Perin
Depois de dois anos de separação, é que o amor começa a ser superado. Não antes, por mais rápido que seja o relógio biológico e emocional de cada um.
Com o desenlace, o impulso é apagar todos os arquivos do relacionamento: imagens, cartas, textos, viagens, declarações. Trata-se de uma atitude passional e súbita para a sobrevivência, para se acostumar com a ausência dali por diante. Expulsa o romance mais do que realmente joga fora.
Mas o delicado de entender é que você apagou o passado dos aplicativos, mas ainda existe a lixeira do Windows do inconsciente. É preciso, então, entender o que aconteceu, para o seu bem ou para seu mal, e ter a coragem de descartar tudo de novo. O resto de tudo.
Jurava que já havia resolvido, porém vê que existe um purgatório da memória, assim como há em todo computador. Limpar a lixeira será o ato de libertação das mágoas. Quando está mais forte e com distanciamento crítico, para não sofrer com a preservação de relíquias duvidosas. Deixará de colocar em xeque as suas decisões, e de parar o olhar, atormentado, nas lembranças como se existisse um jeito de melhorá-las. Assumirá o que aconteceu como acontecido, o imperfeito como possível, o provisório como definitivo.
Não escolhe mais, apenas se desfaz. As palavras tornam-se fotografias inúteis.
Não terá mais a sensação de que está pondo você no lixo, ou parte da sua vida no lixo, aceitará que o fim é somente espaço para novas memórias.
Publicado em O Globo em 03/08/17
ERA UM FUTEBOL COM OS AMIGOS
Arte: Eduardo Nasi
Jogo futebol toda segunda-feira com amigos. No início, era para ser com grupo da mesma idade. Mas com o tempo, os quarentões se lesionam com mais facilidade e a reposição etária ficou complicada.
Encontrar alguém que não tenha uma complicação – uma lesão irreversível no joelho ou uma hérnia de disco – é uma loteria. Nem criando um anúncio no Facebook é possível recrutar soldados interessados em se alistar e desafiar a saúde e o casamento. Há mais treinadores e juízes habilitados do que atletas em campo. Os colegas dispostos e disponíveis rarearam consideravelmente.
A pelada entrou na patifaria mesmo. Porque os pais, diante da ausência de quórum, chamam os filhos adolescentes para completar os times. A igualdade de fôlego desaparece. E a velhice surge mais evidente e caricata. Melhor entrar em campo com uma bengala, onde contarei com mais chances de me defender.
Você não está mais disputando partidas na sua faixa sênior, mas concorrendo com o juvenil. Uma dividida de bola no alto pode custar duas semanas de recuperação. Quando você sobe para cabecear, precisa descer – esquecemos desse fundamento.
Estaremos troteando na quadra, em lento desfile farroupilha, enquanto os meninos vão e voltam num galope de turfe. Eles brincam; nós, velhos, brigamos com o cronômetro. Quanto falta para acabar é um pedido de socorro de nossa parte. Quanto falta para acabar é a excitação deles para fazer mais gols.
Experimentamos a gravidade pensativa e cautelosa de um tabuleiro de xadrez, e a meninada pensa que aquilo é dama, comendo as peças rapidamente pelas diagonais.
Em meu condicionamento atual, desfruto da reserva de três piques por semana, mas queimo o estoque na largada para acompanhar e intimidar os jovens. Peço para ficar um pouco de goleiro para me recuperar da asma forcada, algo impensável para o fominha de outrora.
A cabeça raciocina uma triangulação, o corpo só geme e corre para frente. Nossa geometria é uma linha reta. Nunca mais o triângulo equilátero das peladas da infância, com os três lados iguais.
Minha esposa estranha a minha exaustão de noite, mancando e suspirando até para abrir a geladeira. Há muito não jogo futebol, é pentatlo. Corro, me arremesso, salto, lanço e luto. Acima de tudo, luto para não me entregar.
Publicado em Vida Breve em 02/08/17
ESTOU NO BANHO
Não posso dizer que não subi na vida.
Já estou infinitamente melhor do que na minha infância.
Quando pequeno, não tinha nem uma toalha própria para tomar banho. Dividia com o meu irmão mais novo.
O box não tinha divisória do resto do banheiro. Era eu, a água e o ralo. Um vestiário absolutamente pobre. Só havia a tampa da privada para proteger a roupa seca.
O rodo ficava atrás da porta e sempre tinha que ser faxineiro ao final da chuveirada. Mal me lavava e já estava suado. O espaço se transformava num convés de barco em tempestade, absolutamente alagado.
Na adolescência, houve uma evolução dos hábitos. Recebemos uma cortina floreada para nos banhar mais em segredo. Porém, a paz não durou uma semana. Com o vento da janela, a cortina grudava no corpo e nos plastificava. Eu lutava mais com a cortina do que com a água. Não podia permanecer muito tempo debaixo da torrente. Cinco minutos de chuveiro elétrico e caía o interruptor de luz — meu pai não arrumava de propósito, para economizar energia. Não adiantava gritar, que ninguém acudia.
Torrente nada. Vinha um fiozinho quente com acalentado custo. Rezava para não virar a torneira demais e perder a quentura. A torneira parecia um cofre, cuidando com cada giro. A torneira parecia um lápis: ao atingir a ponta, quebrava-se a perfeição em seguida por um movimento adicional. Jamais recuperava a temperança.
A cortina floreada, de tanto se contorcer, sem fixação nenhuma nos pés, acabava deixando tudo igualmente inundado e lá tinha que buscar o rodo de novo.
Nunca a gota fria na descida da ducha foi solucionada na minha puberdade. Ela vinha do nada para nos devolver a humildade. Não tem noção de como aquilo me afetou, o mesmo que se defender de um inimigo invisível, estapear uma mosca imaginária. Por pouco, não virei esquizofrênico.
No começo da faculdade, a família instalou finalmente um box de acrílico — estávamos perto da civilização.
Mas a porta de correr emperrava com frequência, numa sanfona frouxa. Ensaboado, não contava com firmeza para colocá-la de volta nos trilhos. Um dia, saí do banho literalmente com a porta nas mãos.
Hoje, tenho um box de vidro e um chuveiro potente e constante que cobre todo o meu corpo. É a grande promoção da minha longa história, nada irá superá-la. Um luxo que os meus filhos não vão entender.
Publicado em Jornal Zero Hora em 01/08/17
Já estou infinitamente melhor do que na minha infância.
Quando pequeno, não tinha nem uma toalha própria para tomar banho. Dividia com o meu irmão mais novo.
O box não tinha divisória do resto do banheiro. Era eu, a água e o ralo. Um vestiário absolutamente pobre. Só havia a tampa da privada para proteger a roupa seca.
O rodo ficava atrás da porta e sempre tinha que ser faxineiro ao final da chuveirada. Mal me lavava e já estava suado. O espaço se transformava num convés de barco em tempestade, absolutamente alagado.
Na adolescência, houve uma evolução dos hábitos. Recebemos uma cortina floreada para nos banhar mais em segredo. Porém, a paz não durou uma semana. Com o vento da janela, a cortina grudava no corpo e nos plastificava. Eu lutava mais com a cortina do que com a água. Não podia permanecer muito tempo debaixo da torrente. Cinco minutos de chuveiro elétrico e caía o interruptor de luz — meu pai não arrumava de propósito, para economizar energia. Não adiantava gritar, que ninguém acudia.
Torrente nada. Vinha um fiozinho quente com acalentado custo. Rezava para não virar a torneira demais e perder a quentura. A torneira parecia um cofre, cuidando com cada giro. A torneira parecia um lápis: ao atingir a ponta, quebrava-se a perfeição em seguida por um movimento adicional. Jamais recuperava a temperança.
A cortina floreada, de tanto se contorcer, sem fixação nenhuma nos pés, acabava deixando tudo igualmente inundado e lá tinha que buscar o rodo de novo.
Nunca a gota fria na descida da ducha foi solucionada na minha puberdade. Ela vinha do nada para nos devolver a humildade. Não tem noção de como aquilo me afetou, o mesmo que se defender de um inimigo invisível, estapear uma mosca imaginária. Por pouco, não virei esquizofrênico.
No começo da faculdade, a família instalou finalmente um box de acrílico — estávamos perto da civilização.
Mas a porta de correr emperrava com frequência, numa sanfona frouxa. Ensaboado, não contava com firmeza para colocá-la de volta nos trilhos. Um dia, saí do banho literalmente com a porta nas mãos.
Hoje, tenho um box de vidro e um chuveiro potente e constante que cobre todo o meu corpo. É a grande promoção da minha longa história, nada irá superá-la. Um luxo que os meus filhos não vão entender.
Publicado em Jornal Zero Hora em 01/08/17
MORTOS NÃO PODEM SE DEFENDER
Arte: Peter Blake
Toda morte traz o acento grave da reflexão. Paramos para pensar quem somos e o quanto seremos memoráveis.
Ponderamos as nossas decisões, voltamos os braços para a família, medimos o tempo que nos falta com a colherzinha no fundo da xícara do café.
A morte não melhora o falecido, ela existe justamente para melhorar os vivos, garantindo uma segunda chance para aqueles que ficaram.
É o momento de pensar duas vezes antes de falar e de rezar duas vezes depois de falar.
A morte não santifica ninguém, não recupera danos, não dissipa mágoas, não soluciona conflitos, porém ela impõe respeito. Respeito que deve existir igualmente entre quem ama e quem odeia, entre amigos e inimigos, entre aliados e adversários.
E nem se trata de hipocrisia, ou de esconder os defeitos daquele que se foi, ou de sufocar a verdade. É tão somente compaixão. Não é mais a hora de brigar, é a hora de enterrar as mágoas. Não é mais hora de fazer piada, é hora de falar sério. Não é mais hora de apontar defeitos no falecido, é hora de reparar os próprios defeitos enquanto é possível.
Não cabe aumentar o sofrimento dos familiares com constrangimentos.
Levo de casa um par imutável de regrinhas: dos vivos somente falo mal pelas costas e dos mortos não falo mal de modo nenhum - é covardia, eles não têm mais como se defender.
Publicado em 31/07/17
VOCÊ NÃO TEM NADA A VER COM O ORGASMO FEMININO
Você se julga responsável pelo orgasmo feminino, então comete um erro primário. Você não faz uma mulher gozar, ela goza sozinha. O prazer dela não tem nada a ver com o que fez ou deixou de fazer. Não é uma tela onde, ao final, assina o nome. Não é um poema onde registra a autoria. Não adianta contar aos amigos a façanha, a proeza não é sua.
Pode assistir de camarote. Pode ter a honra de vê-la se amando. Mas o show é dela, o palco é dela, todo homem será sempre um espectador. Não é algo que se leva para o currículo amoroso ou destinado a fortalecer a vaidade. O orgasmo feminino acontecerá com ou apesar de você.
Leia todas as colunas de Fabrício Carpinejar
Ela mesmo se completa. O que pode ocorrer felizmente são dois inteiros se encaixando e transbordando. Duas autonomias convergindo e encontrando a liberdade do movimento.
O jardim é dela, e ela é a única jardineira. Ela é que se planta e floresce. Ela é que se conhece e se poda. Respeite o direito dela de ter ou não ter prazer, de fingir ou de ser autêntica, de estar com vontade ou perder a vontade.
Dê tempo em vez de censurar. Dê os braços e as pernas para que ela possa cumprir as suas coreografias. Use o corpo inteiro e não somente um membro. Mais que isso é desnecessário.
Não existe fiador ou dependente. Não existe menor ou maior. Não existe passivo e ativo. Não existe caridade e provedor no sexo. Não caia na conversa machista de que você manda, e ela obedece. Ambos mandam e obedecem na mesma hora.
Não é apenas estar junto, é saber estar junto. É mais do que contar histórias, é ser a própria história. O contexto, a gentileza, o apego, a garra, a força e a fissura se misturam e se interpenetram no caldeirão de sentimentos.
Não esqueça de que a mulher tem um ouvido imaginativo, um ouvido musical. É pela audição que ela sonha e se observa. Não passe pelas sucessivas transas repetindo o repertório de bichos e ofensas. É um tédio atravessar anos de relacionamento escutando quatro palavras recorrentes sem parar no quarto. Amplie o vocabulário. A fala é o motor da língua.
Nem ouse ser preconceituoso e supor que ela é delicada e frágil, a mulher é selvagem e tem outras várias por dentro. No sexo, todos somos bipolares. Você só tem uma única missão na cama: não atrapalhar o orgasmo dela. E não é uma tarefa fácil.
Publicado em Jornal Zero Hora em 30/07/17
Pode assistir de camarote. Pode ter a honra de vê-la se amando. Mas o show é dela, o palco é dela, todo homem será sempre um espectador. Não é algo que se leva para o currículo amoroso ou destinado a fortalecer a vaidade. O orgasmo feminino acontecerá com ou apesar de você.
Leia todas as colunas de Fabrício Carpinejar
Ela mesmo se completa. O que pode ocorrer felizmente são dois inteiros se encaixando e transbordando. Duas autonomias convergindo e encontrando a liberdade do movimento.
O jardim é dela, e ela é a única jardineira. Ela é que se planta e floresce. Ela é que se conhece e se poda. Respeite o direito dela de ter ou não ter prazer, de fingir ou de ser autêntica, de estar com vontade ou perder a vontade.
Dê tempo em vez de censurar. Dê os braços e as pernas para que ela possa cumprir as suas coreografias. Use o corpo inteiro e não somente um membro. Mais que isso é desnecessário.
Não existe fiador ou dependente. Não existe menor ou maior. Não existe passivo e ativo. Não existe caridade e provedor no sexo. Não caia na conversa machista de que você manda, e ela obedece. Ambos mandam e obedecem na mesma hora.
Não é apenas estar junto, é saber estar junto. É mais do que contar histórias, é ser a própria história. O contexto, a gentileza, o apego, a garra, a força e a fissura se misturam e se interpenetram no caldeirão de sentimentos.
Não esqueça de que a mulher tem um ouvido imaginativo, um ouvido musical. É pela audição que ela sonha e se observa. Não passe pelas sucessivas transas repetindo o repertório de bichos e ofensas. É um tédio atravessar anos de relacionamento escutando quatro palavras recorrentes sem parar no quarto. Amplie o vocabulário. A fala é o motor da língua.
Nem ouse ser preconceituoso e supor que ela é delicada e frágil, a mulher é selvagem e tem outras várias por dentro. No sexo, todos somos bipolares. Você só tem uma única missão na cama: não atrapalhar o orgasmo dela. E não é uma tarefa fácil.
Publicado em Jornal Zero Hora em 30/07/17
A DECISÃO MAIS DURA DA VIDA
Foto: Gilberto Perin
Talvez a decisão mais difícil da vida seja se separar de alguém que você ama mas não lhe faz bem. É lutar contra o amor em nome da saúde emocional.
É algo como escolher entre amar ou viver, entre o ruim e o pior. Sairá derrotado em qualquer uma das opções.
Abandonar um amor amando é amputar uma perna para continuar andando. É perder um pulmão para continuar respirando.
Você sabe que, se não acabar com a história, ela acabará com a sua personalidade. Vai enlouquecer, será subjugado e torturado, sacrificará o discernimento. Não terá futuro, somente um precário presente. Renunciará aos amigos, à família, ao trabalho, à sanidade para forçar a convivência.
Os raros momentos de harmonia de um domingo não compensam o inferno das semanas.
Ama o outro, porém nunca esteve tão infeliz e angustiado. Ama o outro, porém não desfruta nem da liberdade das distrações. Ama o outro, porém não se ama dentro desse amor. E um espelho quebrado em casa é muito perigoso.
Todos experimentaram esse dilema em maior ou menor escala. Nem sempre a paixão converge com a paz.
Romper um relacionamento racionalmente exige monumental concentração. Como largar drogas, abandonar cigarro, parar de beber.
Deve-se combater um inimigo que gostaria de abraçar e beijar. A ambiguidade dos sentimentos é revoltante, sendo necessário criar uma frente rígida de rituais para enfrentar a abstinência.
Tem que cortar a carne das palavras, tem que combater a enxurrada das lembranças, tem que se virar com a ansiedade, tem que acordar e fingir que não sonhou com nada, tem que trocar de caminho e endurecer o rosto quando o vento convida o olhar a virar para trás, tem que dissuadir a saudade, tem que fugir dos amigos em comum, tem que adulterar as declarações, tem que evitar músicas e ciladas, tem que montar na memória um pequeno e anônimo cemitério com uma pilha de pedras.
Nada mais triste do que não poder confiar no coração - já que, por amar, não consegue se defender, acreditará nas ofensas, diminuirá de estatura moral até ser insignificante, cederá a vaidade, depois abandonará o orgulho, em seguida pedirá desculpa sem razão nenhuma e aceitará a destruição e os maus-tratos como parte indispensável do romance.
O amor é capaz de matar. E só um grande amor próprio para nos salvar enquanto ainda é possível reunir os cacos.
Publicado em O Globo em 27/07/17
CORTIÇO GASTRONÔMICO
Arte: Eduardo Nasi
Não tenho nada contra bebês chorando, entendo as cólicas e o desconforto de começar a viver, o meu preconceito é com os adultos barulhentos, em especial com aqueles que sentam em mesas diferentes no restaurante e mantém a conversa de qualquer jeito.
Você está no meio de um tiroteio de perguntas e respostas que nada tem a ver com a própria vida.
Em vez de se aproximarem, as pessoas se mantêm longe. São janelas de cortiço berrando. São megafones de sindicatos.
É uma espécie de neofarofismo: trocaram os guarda-sóis e a galinha com farofa da praia para ocupar os estabelecimentos comerciais.
Elas não desfrutam de intimidade para ficar na mesma mesa, mas também forçam amizade com o griteiro. Cometem uma incoerência: educadas para não incomodar os conhecidos sentando junto, mas grosseiros para incomodar todos os demais ali presentes.
Demonstram uma carência política de mostrar a todo custo que são conhecidos. Realizam um Facebook coletivo, um Instagram de corpo presente, trocando postagens e áudios na hora.
O fogo cruzado de palavras mata a paciência de qualquer um.
Somos obrigados a escutar os cumprimentos e as questões existenciais dos amigos que se encontram, não sentam juntos e não param de brincar de mandar ecos na montanha.
Cria-se uma tensão entre os clientes que não desfrutam de condições de manter paz e tranquilidade para concluir as refeições.
É um couvert artístico forçado, sem a compaixão do violão.
Restaurante deveria ter igual liberdade de um cinema, para virarmos a cabeça para trás e pedirmos educadamente por silêncio.
Publicado em Vida Breve em 26/07/17
A CIDADE NAS MÃOS
Os professores não podem perder de vista a importância de propor maquetes para os alunos.
Eu conservo a fascinação da minha primeira maquete, em que tentei reproduzir o meu bairro Petrópolis na feira de ciências. Por um bom tempo, colecionei caixas de fósforos e de remédios e tampinhas para transformar em prédios e canteiros. Assumi um olhar microscópico para a coleta seletiva. Comprei também isopor, cartolina, papelão, papel crepom e varetas e fui desenhando o gramado da Praça Tamandaré com tinta guache. Atravessei as horas livres com pinças e agulhas, cuidando para reproduzir o mundo em miniatura. Eu queria ser leal e real o máximo possível, a ponto de todos os meus colegas identificarem de imediato o lugar escolhido. Nunca trabalhei tanto para o invisível, compunha fachadas, abria portas e janelas com furos minúsculos. Não queria que a cola de madeira aparecesse. Cuidava para colocá-la somente debaixo das construções.
Levei três meses para organizar um espelho das calçadas estreitas, com as ladeiras e curvas. Nas andanças, contava quantas árvores tinha em cada rua para não mentir para a vida.
Se hoje amo a minha cidade, eu devo àquela maquete. Não esqueço do medo de carregá-la em minhas mãos até a escola: o medo de tropeçar, o medo de escorregar e perder tudo o que tinha feito. Eu tinha a cidade em uma bandeja de garçom, equilibrando-a junto com a mochila e a merendeira. Suei frio, por certo, e coração acelerado com o tesouro frágil da minha observação. Mas mantive, desde lá, o senso de responsabilidade com o lixo indevido, com as pedras saltadas, com os buracos nas vias. Não poderia haver maior aula de cidadania e de educação cívica.
Antes, a cidade era uma abstração que apenas usava, ela se tornou palpável com as noites perdidas imitando os seus contornos.
Eu me elegi prefeito de um cosmos de formigas. Notei o quanto custava aplainar os telhados de uma casa e zelar pela paz de seus quintais. Quando algum menino, por molecagem, queria testar a força do papel para estragar a minha construção e a minha nota, eu tinha que intervir e rosnava como um cachorro protegendo a sua propriedade.
Lembro dessa insignificância infantil porque Porto Alegre se encontra abandonada. Esquecemo-nos de que levamos 245 anos para levantá-la, um monumental esforço desperdiçado.
Estamos dependendo da pureza das maquetes de novo, dos dedos pequenos e ágeis de nossos estudantes. Para cada um se sentir dono desse canto outra vez e carregar a Capital em seus braços, no momento em que ela mais precisa.
Publicado em Jornal Zero Hora em 25/07/17
Eu conservo a fascinação da minha primeira maquete, em que tentei reproduzir o meu bairro Petrópolis na feira de ciências. Por um bom tempo, colecionei caixas de fósforos e de remédios e tampinhas para transformar em prédios e canteiros. Assumi um olhar microscópico para a coleta seletiva. Comprei também isopor, cartolina, papelão, papel crepom e varetas e fui desenhando o gramado da Praça Tamandaré com tinta guache. Atravessei as horas livres com pinças e agulhas, cuidando para reproduzir o mundo em miniatura. Eu queria ser leal e real o máximo possível, a ponto de todos os meus colegas identificarem de imediato o lugar escolhido. Nunca trabalhei tanto para o invisível, compunha fachadas, abria portas e janelas com furos minúsculos. Não queria que a cola de madeira aparecesse. Cuidava para colocá-la somente debaixo das construções.
Levei três meses para organizar um espelho das calçadas estreitas, com as ladeiras e curvas. Nas andanças, contava quantas árvores tinha em cada rua para não mentir para a vida.
Se hoje amo a minha cidade, eu devo àquela maquete. Não esqueço do medo de carregá-la em minhas mãos até a escola: o medo de tropeçar, o medo de escorregar e perder tudo o que tinha feito. Eu tinha a cidade em uma bandeja de garçom, equilibrando-a junto com a mochila e a merendeira. Suei frio, por certo, e coração acelerado com o tesouro frágil da minha observação. Mas mantive, desde lá, o senso de responsabilidade com o lixo indevido, com as pedras saltadas, com os buracos nas vias. Não poderia haver maior aula de cidadania e de educação cívica.
Antes, a cidade era uma abstração que apenas usava, ela se tornou palpável com as noites perdidas imitando os seus contornos.
Eu me elegi prefeito de um cosmos de formigas. Notei o quanto custava aplainar os telhados de uma casa e zelar pela paz de seus quintais. Quando algum menino, por molecagem, queria testar a força do papel para estragar a minha construção e a minha nota, eu tinha que intervir e rosnava como um cachorro protegendo a sua propriedade.
Lembro dessa insignificância infantil porque Porto Alegre se encontra abandonada. Esquecemo-nos de que levamos 245 anos para levantá-la, um monumental esforço desperdiçado.
Estamos dependendo da pureza das maquetes de novo, dos dedos pequenos e ágeis de nossos estudantes. Para cada um se sentir dono desse canto outra vez e carregar a Capital em seus braços, no momento em que ela mais precisa.
Publicado em Jornal Zero Hora em 25/07/17
VIZINHO A MODA ANTIGA
Podemos passar a vida inteira sem conhecer os nossos vizinhos. Cumprimentando apenas no elevador, armando fofoca pela aparência ou registrando reclamações no condomínio pelo excesso de gritaria de uma briga ou pelo volume alto de uma festa. Não conhecer é falar mal.
Mas tenho um vizinho à moda antiga. Como se morássemos no interior. Seu Carlos. O Seu é um título de nobreza. Um dia, do nada, ele me ajudou a carregar as compras do mercado. Ele me viu transportando 20 sacolas em duas mãos, foi fisgado pela compaixão e emprestou os seus braços. Em seguida, o recompensei com cervejas geladas de minha preferência. Eu disse que não precisava, ele disse que não precisava. Gentileza é fazer quando não precisamos.
Criamos uma cumplicidade de corredor. Numa noite, ele confessou que cozinhava. Eu elogiei e comentei que adorava dobradinha. Não é que ele apertou a campainha com um cumbuca de mocotó? Não imaginava uma tele-entrega tão rápida do primeiro ao terceiro andar: o prato ainda fumegava, para inveja da rapidez dos motoboy. Retribuí com meu lombinho de queijo e molho barbecue. Eu disse que não precisava, ele disse que não precisava, seguíamos não precisando, pois cordialidade é um excesso de bom humor.
Quando falta arroz em casa e me bate uma preguiça de caminhar até o mercado, desço e pego um pouquinho do pacote do Seu Carlos. Já o abasteci também de feijão e sal. Brindamos a amizade com xícaras de grãos.
Somos irmãos de andares, da esquina do olhar e de endereço. Para nos comunicar, usamos o interfone do coração, como duas crianças deslumbradas com o alcance surpreendente de Walkie-talkies.
Sempre preparo almoço pensando em um prato a mais, imaginário, destinado a ele. Vá que ele goste. Ele não se dá por rogado e aparece de repente com uma fôrma de nega maluca. Os filhos soltam uma gritaria com o doce inesperado para o café da tarde. Seu Carlos, para eles, já é tio Carlos. Uma nova honraria adquirida pelo convívio.
Estamos próximos sem entender direito como começamos a lealdade — nos ajudamos a pregar quadros, a trocar lâmpadas, a arrumar chuveiro. Trocamos receitas de construção, limpeza e culinária.
Confio nele a ponto de deixar a chave do apartamento em minhas férias. Ele confia em mim a ponto de abrir a porta de seus segredos.
Poderíamos passar a vida inteira sem nos conhecer. Mas não precisávamos e precisamos hoje cada vez mais um do outro.
Publicado em Jornal Zero Hora em 23/07/17
Mas tenho um vizinho à moda antiga. Como se morássemos no interior. Seu Carlos. O Seu é um título de nobreza. Um dia, do nada, ele me ajudou a carregar as compras do mercado. Ele me viu transportando 20 sacolas em duas mãos, foi fisgado pela compaixão e emprestou os seus braços. Em seguida, o recompensei com cervejas geladas de minha preferência. Eu disse que não precisava, ele disse que não precisava. Gentileza é fazer quando não precisamos.
Criamos uma cumplicidade de corredor. Numa noite, ele confessou que cozinhava. Eu elogiei e comentei que adorava dobradinha. Não é que ele apertou a campainha com um cumbuca de mocotó? Não imaginava uma tele-entrega tão rápida do primeiro ao terceiro andar: o prato ainda fumegava, para inveja da rapidez dos motoboy. Retribuí com meu lombinho de queijo e molho barbecue. Eu disse que não precisava, ele disse que não precisava, seguíamos não precisando, pois cordialidade é um excesso de bom humor.
Quando falta arroz em casa e me bate uma preguiça de caminhar até o mercado, desço e pego um pouquinho do pacote do Seu Carlos. Já o abasteci também de feijão e sal. Brindamos a amizade com xícaras de grãos.
Somos irmãos de andares, da esquina do olhar e de endereço. Para nos comunicar, usamos o interfone do coração, como duas crianças deslumbradas com o alcance surpreendente de Walkie-talkies.
Sempre preparo almoço pensando em um prato a mais, imaginário, destinado a ele. Vá que ele goste. Ele não se dá por rogado e aparece de repente com uma fôrma de nega maluca. Os filhos soltam uma gritaria com o doce inesperado para o café da tarde. Seu Carlos, para eles, já é tio Carlos. Uma nova honraria adquirida pelo convívio.
Estamos próximos sem entender direito como começamos a lealdade — nos ajudamos a pregar quadros, a trocar lâmpadas, a arrumar chuveiro. Trocamos receitas de construção, limpeza e culinária.
Confio nele a ponto de deixar a chave do apartamento em minhas férias. Ele confia em mim a ponto de abrir a porta de seus segredos.
Poderíamos passar a vida inteira sem nos conhecer. Mas não precisávamos e precisamos hoje cada vez mais um do outro.
Publicado em Jornal Zero Hora em 23/07/17
AMOR TRISTE
Foto: Gilberto Perin
Não sofremos tanto quando a separação é justa e fizemos por merecer. Aceitamos o fim por mais penoso que seja, porque vislumbramos um motivo para não estarmos juntos. Tem uma explicação pontual, um desvio de percurso, uma quebra de lealdade que feriu e destruiu a confiança mútua. É de se entender a ruptura pelo contexto de uma mágoa.
Amor triste não é aquele em que nos arrependemos das brigas e das discussões, das ofensas e das maldades, pois é natural se destruir quando se gosta muito.
Amor triste, ironicamente, é quando nos constrangemos da própria alegria, nos arrependemos dos momentos felizes, das viagens e passeios, dos presentes e dedicações. Nem a euforia que existiu fica de pé. Nem as fotografias mais bonitas sobrevivem.
É quando saímos da relação com o nítido pressentimento de que estávamos sozinhos desde o início.
É aquele amor esvaziado, que não nos serve de experiência, que não nos aperfeiçoará para futuros laços, não nos acrescentou em nada para aprendermos a lidar melhor com a dor.
É aquele amor melancólico, onde chegamos à conclusão da total perda de tempo, a ponto de lamentar o sacrifício da nossa juventude e de anos valiosos da vida.
É aquele amor ladrão que nos leva inclusive os finais de semana e as férias, a paz de ter tentado, o alívio de cenas emocionantes.
É aquele amor desmemoriado, no qual erramos a companhia muito mais do que errar qualquer passo durante a convivência. Até o contentamento soa falso, até a festa era para dentro.
Amor triste é o que não deixa saudade nem do que foi bom.
Publicado em O Globo em 21/07/17
EMPATIA
Arte: Eduardo Nasi
Amizade sem esforço não existe.
Tenho amigos que prometem encontros e sempre arrumam uma desculpa para não ir. Não são amigos, são hologramas.
Combinam café, jantar, cerveja, oferecem palácios e miragens durante as conversas nas redes. E, na hora, desaparecem por algum motivo obscuro: ou filho ou algum familiar adoeceu, ou surge uma viagem inesperada. Desculpas que se assemelham às aquelas usadas no ensino médio.
Atravessam idades jurando que agora vão, que está tudo certo, confirmam a presença e dois dias depois vem com uma justificativa diferente. A vontade é largá-los de mão. Não participam dos momentos mais importantes de sua vida como autógrafos, shows, batizado, casamento. Não comparecem nos enterros das mágoas nem na celebração dos recomeços.
Retomam o contato com velhas promessas e esperanças e não honram o nascimento da palavra. A palavra é tudo o que temos na amizade. Quem quebra o convívio produzirá sempre um silêncio incômodo. Um mal-estar orgânico. Não apagará a sombra das desfeitas.
Amigo que é amigo achará motivos improváveis para ir, apesar da neve e da chuva, do cansaço e do bagaço. Ele se envergonha de desmarcar. Não espera que você entenda adiamentos, já que a desistência é inexplicável e sinaliza uma ausência de prioridade. Ou você se encontra junto ou não se encontra, o meio-termo é habitado por mentiras.
Custa contrariar o conforto para atender a um amigo? Se é pela comodidade nunca sairemos de casa. Ou só receberemos em nossa casa.
Amigo é dedicação, é ajudar quem se separou quando você se vê feliz, é amparar o fracasso quando você se enxerga vitorioso. É largar o seu ponto de vista pela empatia e cumplicidade. Pois a memória a dois só pode ser feita pela renúncia.
Amigo não é boa vontade, é contrariar a vontade às vezes. Não há nada mais bonito do que abraçar forte o amigo e contracenar o seguinte diálogo:
– Pensava que não viesse!
– Imagina se eu perderia a sua cara de bobo.
Toda surpresa é pontualidade no amor. Todo apesar traz apenas o pesar.
Publicado em Vida Breve em 19/07/17
PANO DE PRATO
Veneramos a paixão, a vertigem de conhecer alguém, o desconhecido, as primeiras conversas, os primeiros beijos, o susto do ciúme, a fissura, a insônia do desejo. E a rotina sempre é vista como algoz do entrosamento, como a culpada pelo fim da atração.
Não é justo. Amor feliz é amor velho. É amor usado. É amor gasto, onde conhecemos o outro pela telepatia, onde não mentimos e nem fazemos cerimônia para expressar as nossas vontades. É quando se alcança o reinado da simplicidade, não há a urgência de sair para impressionar, de gastar para passar bem, basta uma comidinha caprichada e um chamego completo.
Relacionamento é como pano de prato. Quanto mais antigo, mais seca. Logo que o compramos, ele não serve para nada. Não lustra coisa alguma. É uma esponja seca. Uma gaze. Espalha as gotículas das vasilhas mais do que suga. Os fios estão separados demais no tecido para conter a água, esticados excessivamente.
Ele é bonito para estender no tampo de vidro do fogão, mas não é prático. Enfeita e não resolve.
Pano de prato precisa ser gasto para funcionar. Após um ano, é que ele realmente absorve. Antes, é decorativo. Antes, serve para ser exibido às visitas.
Ele oferece sinais de seu poder de ação quando fica manchado e castigado. Quando é um trapo das batalhas e almoços familiares. É quando você quer jogá-lo fora, que se torna valioso. É quando você já cogita dele para a limpeza do chão e do banheiro.
Naquela aparência imprópria, com indícios de aposentadoria, é que ele encontrou a sua maturidade, a sua rapidez, a sua competência.
Curioso que ele vira seu braço direito no serviço doméstico quando você perde a esperança e já não vê mais chance de ele voltar a ser branco. É ele virar uma relíquia feinha, que atinge a plenitude de seu trabalho.
O mesmo acontece com a intimidade. No instante em que você deseja se separar é que verdadeiramente a relação começa. Só quer se separar quem está impregnado de realidade, encardido de presença, abrindo a guarda e se esforçando para dar conta da louça suja dos defeitos.
Amor é como pano de prato. É o tempo que traz a experiência. É o tempo que ajeita as arestas. Amor velho é o que permanece, pois é o único que secará as suas lágrimas.
Publicado em Jornal Zero Hora em 18/07/17
Não é justo. Amor feliz é amor velho. É amor usado. É amor gasto, onde conhecemos o outro pela telepatia, onde não mentimos e nem fazemos cerimônia para expressar as nossas vontades. É quando se alcança o reinado da simplicidade, não há a urgência de sair para impressionar, de gastar para passar bem, basta uma comidinha caprichada e um chamego completo.
Relacionamento é como pano de prato. Quanto mais antigo, mais seca. Logo que o compramos, ele não serve para nada. Não lustra coisa alguma. É uma esponja seca. Uma gaze. Espalha as gotículas das vasilhas mais do que suga. Os fios estão separados demais no tecido para conter a água, esticados excessivamente.
Ele é bonito para estender no tampo de vidro do fogão, mas não é prático. Enfeita e não resolve.
Pano de prato precisa ser gasto para funcionar. Após um ano, é que ele realmente absorve. Antes, é decorativo. Antes, serve para ser exibido às visitas.
Ele oferece sinais de seu poder de ação quando fica manchado e castigado. Quando é um trapo das batalhas e almoços familiares. É quando você quer jogá-lo fora, que se torna valioso. É quando você já cogita dele para a limpeza do chão e do banheiro.
Naquela aparência imprópria, com indícios de aposentadoria, é que ele encontrou a sua maturidade, a sua rapidez, a sua competência.
Curioso que ele vira seu braço direito no serviço doméstico quando você perde a esperança e já não vê mais chance de ele voltar a ser branco. É ele virar uma relíquia feinha, que atinge a plenitude de seu trabalho.
O mesmo acontece com a intimidade. No instante em que você deseja se separar é que verdadeiramente a relação começa. Só quer se separar quem está impregnado de realidade, encardido de presença, abrindo a guarda e se esforçando para dar conta da louça suja dos defeitos.
Amor é como pano de prato. É o tempo que traz a experiência. É o tempo que ajeita as arestas. Amor velho é o que permanece, pois é o único que secará as suas lágrimas.
Publicado em Jornal Zero Hora em 18/07/17
MELHOR, PIOR. PIOR, MELHOR.
Foto: Gilberto Perin
Aquele que convive com pais mais velhos entenderá o que digo.
Eles são representantes da contraespionagem.
Podem falar a verdade em qualquer área da vida, menos quando abordam a própria saúde. Não há como confiar literalmente em seu estado. Pregam peças em abundância.
Tendem a piorar quando não é nada e subestimar quando é grave. Engrandecem o alarme falso e boicotam os chamados sérios.
Se têm uma enxaqueca agem com o acento de um derrame. Se têm uma indisposição já convocam uma coletiva com os filhos para adiantar o testamento. Se sofrem de uma gripe tapam o rosto com cobertor aguardando a caveira encapuzada e a sua foice.
Colocam uma lupa na letra miúda das bulas. Dor de garganta é câncer. Dor nas costas é osteoporose. Dor no ouvido é surdez.
Eu até prefiro o exagero ao menosprezo. Melhor um fóbico a um cético. A prevenção, ainda que errada, continua sendo um cuidado.
Os pais me complicam mesmo ao negar os seus ataques mais contundentes e menosprezar a autenticidade do quadro clínico. Encontram-se à beira da morte e fingem que é uma fraqueza passageira.
A pressão dispara acima dos 23 e procuram me convencer que é normal e que só precisam descansar um pouco. "É apenas uma tontura, vou tirar um cochilo e melhoro".
A desidratação avança no Saara da testa e a crise se reduz a um desconforto momentâneo, resultado de algo que se comeu no almoço.
Quando não estão mal querem correr ao hospital. Quando estão mal querem ficar em casa a todo custo. É enlouquecedor. No primeiro caso, julgam os filhos como omissos. No segundo, os filhos são autoritários e pretendem forçar internações.
Não tenho problema com o teatro, não me irrito com a invenção dos sintomas, desgastante é ter que provar a doença para o doente.
Publicado em O Globo em 14/07/17
DANÇA DAS CADEIRAS
Arte: Eduardo Nasi
Estudei em escola pública. Não somente carregava a mochila, transportava a minha cadeira para diferentes salas. Eu tinha uma cadeira de estimação.
Não havia classes suficientes. Se eu tinha aula de coral, era obrigado a levar a minha cadeira. Passava por todo o pátio com ela nas costas. Franzino, pequeno, fazendo frete diário dos sonhos. Estudar custava esforço, não se restringia apenas ler e escrever, precisava cuidar do raro material para que nada quebrasse pois nunca existiria reposição. A minha mesa, por exemplo, foi manca da primeira a oitava série – jamais recebeu conserto.
Emergi de um mundo abandonado. A cadeira deveria resistir como eu. Eu me enxergava como um guindaste de porto, contando os passos miúdos, à procura do alívio do desembarque. Pesava, mas não poderia demonstrar fraqueza aos colegas. Sempre fingi ser mais forte do que realmente sou até ser forte o suficiente para assumir as fraquezas.
Andava com a cadeira pelos corredores apertados da escola, antevendo os degraus por telepatia, obedecendo a ordem do diretor de não produzir barulho – mesmo sendo impossível o silêncio diante daquela desordem retirante.
Participava da fila indiana de pequenos viajantes a cada sinal do fim do período. Era o meu guarda-chuva de madeira. O meu barraco nos ombros. A minha tábua de mandamentos.
Marchávamos, e as cadeiras dançavam no céu.
A cadeira sentava na minha cabeça, tudo para poder assistir às disciplinas seguintes. O barulho de metal se aquietando no chão não me sai da memória: um exército depondo as suas armas.
Demorava dez minutos para ouvir de novo a voz da professora.
A minha alfabetização ia além do giz roçando o quadro verde. Entendi, desde cedo, a importância de lutar pelo meu lugar.
Publicado em Vida Breve em 12/07/17
OS ESPINHOS DAS ROSAS
O que estraga o amor são os intermediários. Nem é o próprio casal, é o que contamos para os outros e como contamos para os outros.
Assimilei o golpe na marra, na adolescência. A primeira vez em que mandei flores para uma candidata a minha paixão não foi uma experiência edificante. A relação estava indo muito bem: já andávamos de mãos dadas, já ensaiávamos a formalização do namoro, já nos procurávamos mais do que o normal. Eu decidi dar aquele empurrão que faltava jurando que era abraço. Liguei para uma floricultura e encomendei uma dúzia de rosas vermelhas para entrega no trabalho dela, onde atuava como estagiária de jornalismo. Não pedi meia dúzia de rosas, quem pede a metade demonstra avareza. Achei que fazia bonito com a inteireza de um buquê. Flor, para impressionar, deve ser carregada com os dois braços. Com uma mão livre, corre-se o risco de um tapa.
Eu senti um medinho de remeter para o escritório e expor a nova relação a inveja e curiosidade dos colegas dela, mas, entre mortos e feridos, julguei que traria mais feridos do que mortos e ela iria, ao final, se envaidecer do meu gesto de arrebatamento e entrega.
Ditei o cartão para o atendente. Ele somente elogiava a minha mensagem. Ou seria elojiava? Eu não tinha noção do que aconteceria.
Mandei o buquê para ser entregue de manhã e passei o dia olhando o visor de meu telefone. E nada de ganhar uma resposta de agradecimento. Nenhum sinal otimista do lado de lá. Conferi com a floricultura se havia sido entregue certinho. E a dona atestou que a quase namorada havia recebido, ela mesmo, não houve adiamento do meu sentimento em espécie.
Quando dormia, de madrugada, engolido pela ansiedade, acordo sobressaltado com o apito do SMS: "Não precisava se /encomodar/, não podemos seguir nos encontrando. Não suporto analfabetos".
Não entendi. Telefonei desesperado umas 12 vezes, imitando os espinhos de cada rosa, e o número dela estava desligado. Revisei o bilhete em pensamento como um revisor de testamento e não detectava material para a incompreensão e duplicidade.
Foi quando abri o Orkut dela e vi o cartão do jardim escaneado, com mais de 800 comentários (a maldade imperava nas centenas de registros):
"Estou ancioso para lhe ver a noite, porque você dá ritimo para a minha vida. Beijo".
Ancioso? Ritimo? O funcionário da floricultura ferrou com o meu português.
Não consegui me explicar. O encanto desapareceu por parte dela. Jamais confiei novamente o que sinto para um estranho.
Postado em Jornal Zero Hora em 11/07/17
Assimilei o golpe na marra, na adolescência. A primeira vez em que mandei flores para uma candidata a minha paixão não foi uma experiência edificante. A relação estava indo muito bem: já andávamos de mãos dadas, já ensaiávamos a formalização do namoro, já nos procurávamos mais do que o normal. Eu decidi dar aquele empurrão que faltava jurando que era abraço. Liguei para uma floricultura e encomendei uma dúzia de rosas vermelhas para entrega no trabalho dela, onde atuava como estagiária de jornalismo. Não pedi meia dúzia de rosas, quem pede a metade demonstra avareza. Achei que fazia bonito com a inteireza de um buquê. Flor, para impressionar, deve ser carregada com os dois braços. Com uma mão livre, corre-se o risco de um tapa.
Eu senti um medinho de remeter para o escritório e expor a nova relação a inveja e curiosidade dos colegas dela, mas, entre mortos e feridos, julguei que traria mais feridos do que mortos e ela iria, ao final, se envaidecer do meu gesto de arrebatamento e entrega.
Ditei o cartão para o atendente. Ele somente elogiava a minha mensagem. Ou seria elojiava? Eu não tinha noção do que aconteceria.
Mandei o buquê para ser entregue de manhã e passei o dia olhando o visor de meu telefone. E nada de ganhar uma resposta de agradecimento. Nenhum sinal otimista do lado de lá. Conferi com a floricultura se havia sido entregue certinho. E a dona atestou que a quase namorada havia recebido, ela mesmo, não houve adiamento do meu sentimento em espécie.
Quando dormia, de madrugada, engolido pela ansiedade, acordo sobressaltado com o apito do SMS: "Não precisava se /encomodar/, não podemos seguir nos encontrando. Não suporto analfabetos".
Não entendi. Telefonei desesperado umas 12 vezes, imitando os espinhos de cada rosa, e o número dela estava desligado. Revisei o bilhete em pensamento como um revisor de testamento e não detectava material para a incompreensão e duplicidade.
Foi quando abri o Orkut dela e vi o cartão do jardim escaneado, com mais de 800 comentários (a maldade imperava nas centenas de registros):
"Estou ancioso para lhe ver a noite, porque você dá ritimo para a minha vida. Beijo".
Ancioso? Ritimo? O funcionário da floricultura ferrou com o meu português.
Não consegui me explicar. O encanto desapareceu por parte dela. Jamais confiei novamente o que sinto para um estranho.
Postado em Jornal Zero Hora em 11/07/17
AS MÃOS MACIAS DE MEUS PAIS
Enquanto vejo as mãos de minha mãe livres na mesa, gesticulando com ênfase italiana e passional, eu lembro que nem sempre foi fácil encaixar os meus dedos em seus dedos.
Na infância, éramos muitos filhos. E na hora de passear tínhamos que brigar para andar de mãos dadas com os pais. Quatro mãos concorridas a tapas pelos irmãos.
Uma das crianças habitualmente circulava solta, esperando a sua vez de ser eleita para o contato.
E a mãe oferecia, então, a mão invisível do grito:
- Anda mais rápido!
Ela espichava o olhar para não extraviar uma das crias da ninhada.
Imagino o quanto mãe e pai sofriam para controlar as nossas brincadeiras nas saídas para a rua e as frequentes e arriscadas distrações. O quanto penavam para convencer a turma a atravessar na faixa de segurança e nos fixar no rumo certo.
Um carretel de berros e alertas mantendo o bando unido nas caminhadas pelo centro de Porto Alegre. Um carrossel de preocupação e ternura, para ninguém se perder e ficar para trás. Um circo de loja a loja, de restaurante a restaurante
Não facilitávamos os seus cuidados: mexíamos em pedrinhas e flores nos canteiros, parávamos para colher frutas, encarávamos as vitrines pelos sonhos dos reflexos.
- Não mexa aí!
Os filhos que se mantinham pendurados nos cabides dos braços não eram o problema. O medo se voltava para o avulso, o que andava próximo e perigosamente independente, por absoluta falta de mãos.
E eu me sentia o filho menos querido quando terminava sendo o escolhido a perambular a sós. Nem queria a mãozinha do irmão, que se equiparava a uma esmola. Não admitia compaixão: desejava tudo ou nada.
E eu me sentia o filho dileto e mais amado quando chamado para fazer a frente de combate. O sorriso de satisfação e orgulho vinha fácil e rápido. Óbvio que provocava a ovelha desgarrada com a lã crespa de minha felicidade.
Disputávamos a atenção como quem trava duelo de garfos pelo último bolinho de chuva na bandeja.
As andanças desesperadas da meninice influenciaram os meus passos. Sou ansioso para chegar a algum lugar, mesmo quando me encontro com folga e adiantado. A ansiedade obedece ainda ecos dos comandos materno e paterno.
Hoje os pais, velhos, já separados e morando cada um em seu apartamento, estão com as mãos disponíveis. Mas os irmãos esqueceram a avidez da concorrência. Não mais se angustiam pelo privilégio.
Talvez tenham que reparar, como eu agora, que a dinâmica familiar se inverteu. Eles é que precisam de nós, não mais nós deles.
Sou eu que devo levá-los a passear. E vê a minha sorte adulta, bem maior do que naquele tempo. Eu possuo exatamente um par de mãos para não deixar nenhum deles sozinho neste mundão de fragilidades.
Publicado em Jornal Zero Hora em 11/07/17
terça-feira, 29 de agosto de 2017
NÃO SE MEXA DEPOIS DA SEPARAÇÃO
Foto: Divulgação Pixabay
Na separação, o primeiro passo é não dar nenhum passo. A imobilidade é o grande truque. Não se mexer dentro da raiva porque pode se arrepender no futuro. Não tenha pressa de tomar decisões.
Respire fundo porque as 48 horas após o término serão fundamentais para assegurar uma possível volta. Os divórcios se tornam definitivos não com aquilo que acontece frente a frente, e sim com as consequências irracionais do desespero de ser ver sozinho de repente.
As pessoas ficam transtornadas quando isoladas e se ofendem como animais, com tamanha gravidade que sacramentam o término. Daí não tem como recuperar a honra. Os machucados das discussões se transmudam em golpes fatais na reputação.
Aqueles que se afastam, em vez de calar a boca e realizar um exame de consciência, ampliam os defeitos e a crise colocando mais gente para opinar sobre o que aconteceu de errado no romance. Acabam telefonando para os familiares e amigos do recente ex para contar segredos que nunca deveriam ter saído da relação. A fofoca sempre será o juiz de guerra.
Houve o afastamento provisório, um desentendimento passageiro, não significa um ódio mortal para propor retaliações.
Não encurte o caminho, não corra com os fatos, não se adiante a espalhar a notícia. Um telefonema ou um toque no interfone pode revolucionar a situação em algumas horas e terá o trabalho dobrado de se explicar para a cidade inteira.
Não mergulhe na ansiedade de provocar a saudade e mostrar o que o outro perdeu. Não se vingue trocando o status do Facebook. Não empregue artifícios do terrorismo, colocando bombas nos santuários do relacionamento e nos lugares prediletos do casal. Não saia transando com antigas pendências e novos pretendentes. Não poste imagens exaltando a condição solteira. Não mexa em seus arquivos no celular. Não descarte as conversas. Não bloqueie o seu amor no WhatsApp somente para se enxergar superior. Não apague as fotos do Facebook e das redes sociais, pois o portal ainda está aberto e qualquer ataque é passível de dificultar o retorno e restringir o respeito.
Esconda as bebidas, compre pizza, empreenda um estoque de sorvete e chocolate, e assista a cinco temporadas de uma série alternando o sofá da sala e a cama. Quando não nos precipitamos tudo se resolve automaticamente.
Não fale mal de quem ainda lhe fez bem durante um longo tempo. Bate-bocas são contornáveis, o que não tem conserto é a difamação.
Pense muito antes de enterrar alguém no coração, para não enterrar vivo.
Publicado em Donna em 09/07/17
RESILIÊNCIA
Arte: Eduardo Nasi
Minha mãe é partidária da resiliência. Se está ruim não espera que fique pior. Ela acende palavras e velas quando a vida escurece, em vez de amaldiçoar a escuridão.
Nunca comemorou apenas as boas notícias. Quando não tínhamos dinheiro na infância, com as contas pendendo no precipício, ela reunia os seus filhos para comemorar com um farto estrogonofe e batata palha. Parecia festa de casamento. Porque tristezas casadas são menos tristes.
– Comemorar o quê? – perguntávamos.
– Qual a graça de comemorar só as coisas boas? – ela respondia.
Não aniversariávamos conquistas, mas também fracassos. Era um jeito de acreditar sempre. Despertávamos o otimismo nas crises, mobilizávamos a nossa união diante das adversidades. Ríamos dos problemas para não aumentá-los com o rancor, o silêncio e o ressentimento. Reagíamos com leveza quando batíamos o carro, ou quando acontecia um corte no orçamento. Jamais entrávamos em pânico. Alguém trancava o quarto para chorar na família e ela enchia a casa de flores para chamar as abelhas de volta ao mel.
Sua receita consistia em não se desesperar. As frases negativas possuíam força de ímã de maus conselhos.
Invertia as expectativas, renovava o poder da oração, mostrava que não tínhamos certeza se a situação desfavorável não abriria caminhos mais duradouros e definitivos.
– Quem diz que não foi o melhor do ruim, que fomos poupados de algo mais grave? – perguntava.
Minha mãe saia comigo quando perdia um emprego e brindava ao desconhecido:
– Fecha-se uma janela, abre-se uma porta.
Trocávamos o sangue das batalhas por duas garrafas de vinho. No lugar da camisa ferida e da mortalha do desânimo, a toalha manchada da mesa representava o nosso santuário da confiança. Não acusávamos o golpe. Pois, quanto menor a realidade, maior será a esperança.
Publicado em Vida Breve em 05/07/17
CHINELO COM MEIA
Uma prova de que o gaúcho dá certo e tem uma improvável capacidade de se adaptar em qualquer lugar é o chinelo com meia. É a indumentária espiritual de casa, da vadiagem doméstica, não existe nada mais tradicional da Região Sul, não perdendo em prestígio folclórico para a bota e a bombacha.
Só nós mesmos para estabelecer-se a improvável combinação. Não é anatômico, agride igualmente o conforto da meia e do chinelo. O dedão fica como uma pedra a ser arremessada de um estilingue. Quem nos enxerga caminhando jura que será atingido. Somos Davi contra a fatalidade hostil das estações.
Não é tampouco bonito, tem um quê de engessado, de manco, produzindo um andar peculiarmente arrastado. As sandálias romanas eram mais confortáveis.
E usamos de propósito, por desdenhar das facilidades. A tira de borracha com a lã expressa o nosso temperamento dramático, exagerado, feito de extremos.
O escultor pelotense Antônio Caringi bem que poderia ter descalçado o Laçador e posto umas havaianas com meia. Constaria como mais de uma de nossas maluquices.
O hábito traduz a nossa personalidade entremundos: conversar aqui e escutar ali. Revela o espírito de quem não quer perder nada: urbano, praiano e rural ao mesmo tempo.
Chinelo com meia é ideal para tomar banho de nevoeiro e buscar o jornal na porta, é ideal para caminhadas no pátio. Não dependemos de sol para nos bronzear, sempre encontramos um jeito de rosear as bochechas no lar, ainda que seja com um copo de quentão.
Designa o nosso orgulho do inverno, a ponto de atravessá-lo com um adereço de praia. Quem mais ousaria? É reconhecer o frio para tapar os pés, mas jamais se acovardar para negar o chinelo.
Representa o casamento da residência com a rua, da sala com o quarto, do litoral com a serra, é o dentro e fora no mesmo pé. Assim como nossa afetividade é agressiva, gritando logo na hora de cumprimentar, o nosso orgulho é resiliente com a sobreposição inusitada de peças.
Os opostos se atraem em cada gaúcho.
Publicado em Jornal Zero Hora em 04/07/17
Só nós mesmos para estabelecer-se a improvável combinação. Não é anatômico, agride igualmente o conforto da meia e do chinelo. O dedão fica como uma pedra a ser arremessada de um estilingue. Quem nos enxerga caminhando jura que será atingido. Somos Davi contra a fatalidade hostil das estações.
Não é tampouco bonito, tem um quê de engessado, de manco, produzindo um andar peculiarmente arrastado. As sandálias romanas eram mais confortáveis.
E usamos de propósito, por desdenhar das facilidades. A tira de borracha com a lã expressa o nosso temperamento dramático, exagerado, feito de extremos.
O escultor pelotense Antônio Caringi bem que poderia ter descalçado o Laçador e posto umas havaianas com meia. Constaria como mais de uma de nossas maluquices.
O hábito traduz a nossa personalidade entremundos: conversar aqui e escutar ali. Revela o espírito de quem não quer perder nada: urbano, praiano e rural ao mesmo tempo.
Chinelo com meia é ideal para tomar banho de nevoeiro e buscar o jornal na porta, é ideal para caminhadas no pátio. Não dependemos de sol para nos bronzear, sempre encontramos um jeito de rosear as bochechas no lar, ainda que seja com um copo de quentão.
Designa o nosso orgulho do inverno, a ponto de atravessá-lo com um adereço de praia. Quem mais ousaria? É reconhecer o frio para tapar os pés, mas jamais se acovardar para negar o chinelo.
Representa o casamento da residência com a rua, da sala com o quarto, do litoral com a serra, é o dentro e fora no mesmo pé. Assim como nossa afetividade é agressiva, gritando logo na hora de cumprimentar, o nosso orgulho é resiliente com a sobreposição inusitada de peças.
Os opostos se atraem em cada gaúcho.
Publicado em Jornal Zero Hora em 04/07/17
RETRATO DE DORIAN GRAY NA WEB
É pelas fotos das redes sociais que as pessoas revelam o seu problema com a idade. Nem é questão de filtro e da tradicional maquiagem digital.
Eu me refiro a imagens que postamos em nossas identidades no Facebook, no telefone, no WhatsApp, no Instagram. Quando deixamos de lado a nossa atualidade para fazer estranha repescagem e publicar fotos de cinco anos atrás. É um sinal claro e evidente de que o medo de envelhecer chegou pulando com os dois pés cantando Ilariê.
Quem usa fotos antigas já está sofrendo da síndrome de se esconder do tempo.
Verifica-se alguém feliz, pena que absolutamente desatualizado, reinando em cena ancestral e paradisíaca em algum lugar do passado. Quem é careca ainda tem cabelo. Quem é gordo ainda tem cintura. Quem é enrugado ainda não virou ceia de natal com os pés de galinha.
Luta-se para manter a aparência de antes, numa mentirinha visual, numa pequena e venial desonestidade. Tenta-se enganar a passagem do calendário congelando os rostos.
O perfil não traz a melhor fotografia, e sim a que expressa e encarna a juventude de outrora.
É o que mais acontece na web: a falta de aceitação da mortalidade e dos efeitos da vida.
Porém, percebo casos mais graves que esse: de quem coloca foto de um detalhe (o lado mais fotogênico da boca, uma porção bonita do lóbulo e um recorte do olhar) e, ainda, aquele que não acha mais nada que preste em seu álbum e puxa um bonequinho da infância. Numa hierarquia possível, são os que menos admitem o seu atual estágio do corpo.
O que não encontro mesmo nas páginas dos quarentões, cinquentões e sexagenários é foto da adolescência. Não há fotos da adolescência. O que prova que a adolescência não existe. A adolescência é um purgatório da personalidade. Eu, por exemplo, devo ter queimado os registros do meu penteado Chitãozinho e Xororó, dos brincos de cruz de Nina Hagen, da barba de espinhas, dos coletes new wave. Ninguém é perfeito, mas a adolescência exagera nos defeitos.
Publicado em Jornal Zero Hora em 02/07/17
Eu me refiro a imagens que postamos em nossas identidades no Facebook, no telefone, no WhatsApp, no Instagram. Quando deixamos de lado a nossa atualidade para fazer estranha repescagem e publicar fotos de cinco anos atrás. É um sinal claro e evidente de que o medo de envelhecer chegou pulando com os dois pés cantando Ilariê.
Quem usa fotos antigas já está sofrendo da síndrome de se esconder do tempo.
Verifica-se alguém feliz, pena que absolutamente desatualizado, reinando em cena ancestral e paradisíaca em algum lugar do passado. Quem é careca ainda tem cabelo. Quem é gordo ainda tem cintura. Quem é enrugado ainda não virou ceia de natal com os pés de galinha.
Luta-se para manter a aparência de antes, numa mentirinha visual, numa pequena e venial desonestidade. Tenta-se enganar a passagem do calendário congelando os rostos.
O perfil não traz a melhor fotografia, e sim a que expressa e encarna a juventude de outrora.
É o que mais acontece na web: a falta de aceitação da mortalidade e dos efeitos da vida.
Porém, percebo casos mais graves que esse: de quem coloca foto de um detalhe (o lado mais fotogênico da boca, uma porção bonita do lóbulo e um recorte do olhar) e, ainda, aquele que não acha mais nada que preste em seu álbum e puxa um bonequinho da infância. Numa hierarquia possível, são os que menos admitem o seu atual estágio do corpo.
O que não encontro mesmo nas páginas dos quarentões, cinquentões e sexagenários é foto da adolescência. Não há fotos da adolescência. O que prova que a adolescência não existe. A adolescência é um purgatório da personalidade. Eu, por exemplo, devo ter queimado os registros do meu penteado Chitãozinho e Xororó, dos brincos de cruz de Nina Hagen, da barba de espinhas, dos coletes new wave. Ninguém é perfeito, mas a adolescência exagera nos defeitos.
Publicado em Jornal Zero Hora em 02/07/17
OS ADOLESCENTES NÃO SOFREM POR AMOR COMO ANTES
Foto: Gilberto Perin
Os jovens não sofrem como antes sofríamos por amor. Não acontece mais a bebedeira, a sarjeta, o quarto fechado por dias consecutivos, os lençóis pantanosos que somos obrigados a arrancar à força para lavar.
Eu quase morria com as paixões platônicas da adolescência. Não conseguia conversar com ninguém, gastava uma canção até furar os tímpanos e me isolava a ponto de enxergar os objetos no escuro.
Werther não existe mais. Não existe mais a crença pelo amor por toda a vida. As brigas e os divórcios litigiosos dos pais começam a oferecer os primeiros efeitos colaterais. Rompeu-se com a idealização e a hibernação dos pensamentos.
Hoje os adolescentes surgem mais maduros, terminar uma relação não é matar o futuro, é somente seguir adiante. São mais higiênicos e desencanados. Mais realistas que os adultos. Aceitam os foras e as recusas com naturalidade. Não levam para o lado pessoal. Admitem as diferenças e reconhecem as falhas. Não sangram a gengiva, não jogam roupas e objetos dos ex pelas janelas, não geram a discórdia e as fofocas.
Quando os meus filhos encerraram um romance, eu pensava que vinha uma calamidade dali por diante. Afiava os melhores conselhos, preparava panelão de sopa, comprava sorvete, ficava de plantão sentimental. Só que nada acontecia de caverna e tristeza. Nem aborrecidos se mostravam. Emendavam a sua rotina, leves e bem-humorados. Eu conversava com os meus botões: como que ainda conseguem rir após uma ruptura? Simplesmente entendem que a paixão tem ciclos e a eternidade é feita de dias bons e ruins. A amizade vem em primeiro lugar, amizade consigo e com os demais, e o amor não é tão decisivo e fatal como outrora.
Não morrem de esperança, não adoecem por tudo o que não foi vivido, não ruminam as palavras salvadoras que não foram ditas, não repassam o discurso do fim milhares de vezes para detectar aonde erraram.
Não há mais aquele vodu do meu tempo, aquela vingança silenciosa, aquela odisseia pela reconciliação, aquele orgulho ferido e furioso.
Talvez seja a derrocada dos estribilhos de fossa e dos refrões graves e descorneados dos sertanejos. Talvez a dor de cotovelo seja somente diagnóstico de reumatismo.
O amor mudou, e desapareceu a sua turbulenta melancolia. É como música eletrônica: não definimos ao certo quando começa uma e termina a outra.
Publicado em O Globo em 29/06/17
Assinar:
Postagens (Atom)